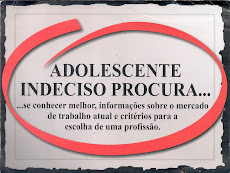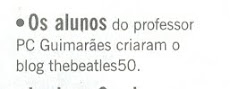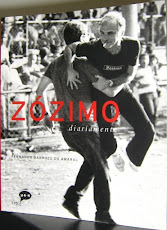Deu no site da Folha.
Acabou o papel, não o jornalismo
Quando li, no início da semana, a notícia de que a Enciclopédia Britânica migraria do papel para a internet, pensei baixinho: Xi, agora sim que acabou o papel.
Dias depois, descobri, em "El País", que alguém mais havia tido a mesma sensação. "A morte do papel agitou o mundo da cultura, sensível como poucos à queda dos símbolos", escreveu Tereixa Constela.
Que a Britânica era todo um símbolo, nem cabe dúvida. Nascida há 244 anos (1768, em Edimburgo, daí o "Britânica", e editada desde 1902 nos Estados Unidos) era o "Sabe Tudo", título de um livro sobre ela escrito por A.J. Jacobs, hoje editor da revista "Esquire".
Jacobs chorou a morte do "seu" livro: "Partiu um pouco meu coração. Havia algo maravilhosamente concreto em sua versão impressa, e eu adorava a ideia de que todo o conhecimento do mundo poderia estar contido naquelas páginas".
Eu não li toda a Britânica, mas sou de um tempo em que ela realmente era um símbolo poderoso de conhecimento ou, mais precisamente, de busca de conhecimento. Na minha adolescência, era meio que obrigatório para as famílias de classe média-média, como a minha, comprarem todos os volumes (hoje, são 32), vendidos de porta em porta. Claro que era um tempo em que a gente ainda abria a porta para estranhos, sem pensar que poderiam ser assaltantes.
Como a Britânica, a exemplo de qualquer enciclopédia de qualidade, é uma espécie de "Jornal de Todos os Jornais", a morte dela no papel de alguma maneira sinaliza o destino dos próprios jornais, obrigados a transitar para o eletrônico? Eu não sei a resposta, mas acho essencial discutirmos, todos, esse futuro em perspectiva.
Foi o que fez, em conferência inaugural do curso de jornalismo de "El País", a notável jornalista Soledad Gallego-Díaz. Não me atrevo a resumir aqui o que Soledad disse, pelo que remeto o leitor para o
link no "El País".
Mas vale chamar a atenção para o espírito da palestra: "De puro medo à morte dos jornais, os jornalistas terminaremos dando um tiro no jornalismo. A pior maneira de suicidar-se é limitar-se a difundir as diferentes versões. Jornalismo é indagar e buscar a verdade".
Bingo, Soledad. Não vou relançar as indagações sobre se existe A Verdade, tema da semana passada, mas vou, sim, difundir uma convocação da jornalista espanhola, que é da minha geração e, portanto, deve compartilhar as mesmas sensações a respeito dessa transição do papel para o eletrônico.
Escreveu Soledad: "Uma maneira de suicidar-se é acreditar que o jornalismo é "nosso", de uma geração determinada de jornalistas, que nos convertemos em seus guardiões, nos guardiões de suas essências e que somos os únicos com direito ou autoridade para exercer seu controle.
Essa é uma ideia bastante letal e funesta, porque leva a não aceitar mudanças, a negar-se a ver as novas realidades e, sobretudo, porque impede precisamente o que mais necessitamos, um debate aberto entre jornalistas de todas as gerações e de todos os diferentes meios, que nos permita recuperar influência como profissionais".
Comentário meu: eu nunca tive esse espírito tão argentino de que "todo tiempo pasado fue mejor", e que, portanto, os velhos jornalistas somos mais jornalistas que os jovens. Mas tampouco acho que devamos ter influência. Acho que excede o limite do nosso papel.
Continuo com Soledad: "Crer que há um grupo que deve proteger o jornalismo das mudanças ou de novas influências é absurdo. Nos suicidaremos se, entre todos, não favorecermos o debate e a análise dessas novas transformações, muitas delas imprescindíveis, mas algumas delas absolutamente contraproducentes.
É preciso falar sobre os benefícios da rapidez, da conectividade, da interrelação com os cidadãos, mas também de seus inconvenientes, de seus perigos, do que favorece e do que prejudica o trabalho jornalístico".
Bingo de novo, Soledad. Nem o "velho" jornalismo nem o "novo" são donos da verdade. Não cabe saudosismo (ou o que a jornalista chama de "utopias regressivas"), mas tampouco é o caso de elevar aos altares, por exemplo, o tal jornalismo cidadão, tão louvado hoje em dia, como se fosse o Santo Graal.
É muito útil, claro, mas, pergunta Soledad, "se, para saber o que se passa em Homs bastam Twitter ou Facebook, por que ali morreu Marie Colvin?"
Refere-se à jornalista norte-americana do britânico Sunday Times que morreu cobrindo o cerco à cidade síria de Homs, precisamente indagando e buscando a verdade. Se a sua verdade fosse publicada em papel ou em formato eletrônico seria indiferente. Essencial é que a busca e a indagação permaneçam vivas, mesmo que morra o papel.

Clóvis Rossi é repórter especial e membro do Conselho Editorial da Folha, ganhador dos prêmios Maria Moors Cabot (EUA) e da Fundación por un Nuevo Periodismo Iberoamericano. Assina coluna às terças, quintas e domingos no caderno "Mundo". É autor, entre outras obras, de "Enviado Especial: 25 Anos ao Redor do Mundo e "O Que é Jornalismo".