

Meu camarada José Esmeraldo Gonçalves, que não vejo há alguns anos, manda recado por uma aluna sobre o lançamento do livro "Aconteceu na Manchete - As histórias que ninguém contou". Vai ser na Livraria da Travessa do shopping Leblon, no Rio. Não li e gostei. Adoro histórias de redação. A coluna da Mônica Bergamo na Folha de hoje traz uma pequena entrevista com o J. A. Barros, que organizou o livro junto com o Esmeraldo. Leiam. Tem coisas interessantes.
Fiz alguns "frilas" para as revistas da Manchete no início da minha carreira. João Luiz de Albuquerque foi quem me indicou. Também tenho uma historinha para contar. Em outro post. Aguardem.







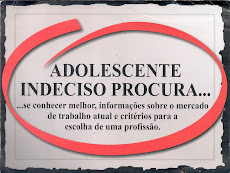





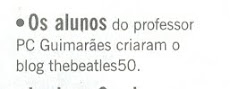




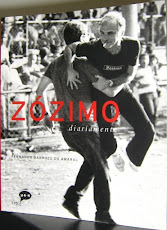































8 comentários:
Caro PC, amigo e colega dos tempos do Russell.
Pois é, a Vivi gentilmente se dispôs a levar a você essa notícia: depois de dois anos de trabalho, está aí o Aconteceu na Manchete. Será um prazer encontrá-lo em um lançamento que vai ter jeito e cara de "reunião de pauta". Um grande abraço,
Mas que honra receber você aqui, Esmeraldo! Vou comprar e ler o livro. Costumo dizer aos meus alunos que leio tudo o que tem escrito Imprensa, Jornalismo, Repórter, Notícia, Reportagem etc (rs). E ler sobre as histórias da Manchete vai ser muito interessante. Sei de algumas histórias que, com certeza, estão no livro. Não sei se vou poder ir ao lançamento na segunda. Dou aula às 20h40 em Botafogo. Mas vou tentar. E se você quiser bater um papo com os meus alunos sobre o livro e as histórias da Manchete, está convidadíssimo.
grande abraço
Sucesso.
MANCHETE E SUA LINHA EDITORIAL
Foram 33 anos de vivência e sofrimento na Manchete, com pequenos intervalos profissionais mas não afetivos. Em 1967, Adolpho convidou-me a escrever um livro sobre Getúlio Vargas, para dar seguimento a uma série que fazia sucesso, “A morte de um presidente”, de William Manchester, sobre o assassinato de John Kennedy; “Rosas e pedras do meu caminho”, memórias de Carlos Lacerda. O meu seria o terceiro e, como os demais, publicado inicialmente em capítulos semanais na revista.Trabalhei um ano, mas não na redação, em diversos lugares e em casa. Terminada a série, fui para Cuba e quando voltei, dois ou três dias após minha saída da prisão (havia sido preso no Galeão, ao desembarcar de um avião que me trouxera de Paris) encontrei Adolpho fazendo a pesquisa pessoal dele nas bancas de jornal do Leme, onde então eu morava.A Bloch havia lançado, havia pouco, uma nova revista, “Pais &Filhos”, era o sucesso editorial da época e Adolpho me forçou a comprar o exemplar daquela semana, garantindo-me que eu nunca teria visto coisa igual. Ele não me deu a revista, tive de pagá-la. Logo o Adolpho disse que tinha planos para mim e convidou-me a almoçar com ele. Dias antes, inaugurara o novo prédio da empresa na rua do Russell. Almoçara outras vezes na Manchete, mas ainda na velha sede de Frei Caneca.Confesso que mal folheei a revista. Mas Adolpho me oferecera emprego e eu estava fora do mercado há cinco anos, desde que pedira demissão do “Correio da Manhã” e ninguém queria saber de mim. Entrou em cena meu editor, Ênio Silveira, que também fora preso e tivera a editora fechada e destruída materialmente pela repressão, tratores a derrubaram durante uma noite. Ênio tentou me colocar em algum lugar mas todas as portas se fechavam. Chegou a escrever uma carta a um dos donos do Grupo Abril, com quem mantinha boas relações, e que estava em vésperas de lançar uma nova revista. A resposta foi gentil para com o Ênio e generosa para comigo, mas em face das circunstâncias, não podia atender à sugestão do Ênio.Curiosamente, o Ênio escreveu a vários editores mas esqueceu-se de escrever ao Adolpho, imaginando que ele seria o último editor do mundo a me dar emprego. E foi justamente o Adolpho, que num encontro casual me convida para trabalhar em sua principal revista, que era a Manchete, então líder indiscutível no ramo.Na terça ou quarta-feira da semana seguinte, fui almoçar com ele. Mostrou-me o que chamava de “coisas loucas” que havia em todo o edifício, o 804, que mais tarde seria ampliado para o 722. Depois levou-me à redação da Manchete, onde estavam velhos e novos conhecidos, como Justino Martins, Zevi Ghivelder, Magalhães Jr, Maurício Gomes Leite, Narceu de Almeida, José Haroldo Pereira, Cícero Sandroni, Irineu Guimarães, Ivan Alves, Fernando Zerlotini e outros,Adolpho disse que eu começaria a trabalhar no dia seguinte e subimos ao décimo andar, onde tinha seu gabinete, que ele nunca usou, e que mais tarde seria usado por mim durante alguns anos. Lá, ele abriu o jogo.Precisava de um redator com prática de edição para tomar conta do projeto das memórias de JK, que já estavam em andamento, mas de forma tumultuada. Ele oferecera o projeto ao Waldomiro Autran Dourado, que havia sido secretário de imprensa durante o governo de JK. Dourado recusou, dizendo que agora precisava dedicar-se à sua obra literária o que realmente aconteceu, ele escreveria naqueles tempos algumas obras-primas de nossa literatura contemporânea, como “Os sinos da agonia”, “O risco do bordado” e outras.Adolpho também ofereceria a tarefa ao Francisco de Assis Barbosa, que era amigo de JK, trabalhara com ele no Catete e já começara uma biografia editada pela José Olympio mas parara no primeiro volume, somente com a infância e mocidade de JK, sem entrar no miolo que afinal interessava às editoras da época. Chico de Assis recusou, tinha mais o que fazer na Academia Brasileira de Letras, da qual era membro.Por sugestão do próprio JK, entraram no projeto dois amigos pessoais dele, dois escritores de peso: Josué Montello e Caio de Freitas, ambos trabalhando na Manchete. Embora grandes nomes da literatura, de reconhecidos méritos, eles não tinham prática nem noção de edição. As pesquisas feitas, brilhantes, confiáveis, completas, estavam amontoadas em notas e recortes de jornais e revistas, sem cronologia e sem unidade de linguagem. Era preciso que alguém pegasse aquele material informe, diminuísse o número de páginas (umas 3 mil), que deveriam ser reduzidas para 1.200, produzindo uma coleção de três volumes com 400 páginas cada, e mais um volume condensando os demais, que saiu com o título de “Por que construí Brasília” .Em tom conspiratório, Adolpho disse que eu ficaria na redação de Manchete, fazendo o trabalho rotineiro de uma redação mas em regime de “part time”. Mostrou-me depois uma pequena suíte no 11º andar, um bonito apartamento com sala, quarto, banheiro completo, muito bem montado. Ali eu poderia dormir, banhar-me, esconder-me se fosse o caso. Naquela época, havia sempre uma instituição militar, exército, marinha, aeronáutica, polícias civil e federal atrás de mim, para tomar depoimentos ou mesmo para me prender (das seis prisões que tive naqueles anos, quatro foram enquanto trabalhava com Adolpho).Ele montou na sala um pequeno escritório onde eu deveria começar a dar texto final e editar as memórias de JK, que iam do dia de seu nascimento, 12 de setembro de 1902, até 31 de janeiro de 1961, data em que ele passou o governo a Jânio Quadros.Foram sete anos neste regime, e como minhas ausências na redação de Manchete eram notadas e havia reclamações por parte do Justino (“O Cony está sempre fora quando eu preciso dele”), Adolpho encarregou-me de dirigir uma nova revista do grupo, “Ele Ela”, que estava em final de lançamento, dirigida até então pelo Muniz Sodré, que ficou encarregado do Departamento de Pesquisa e mais tarde destacou-se como um dos nossos melhores mestres em teoria de comunicação. Seria a primeira revista masculina (as anteriores “Senhor”, “Status” e outras duraram pouco, não se firmaram no mercado e acho que colaborei em todas elas). Sendo mensal, e com uma excelente equipe (Carlinhos de Oliveira, Mário Pontes, Flávio de Aquino, João Antônio, mais tarde Roberto Muggiati, Sérgio Riff, e colaboradores como Ruy Castro, Paulo Mendes Campos, Ibrahim Sued ) sobrava-me tempo para tocar o projeto das memórias de JK. Mesmo assim, numa crise na revista “Desfile”, também mensal, Adolpho pediu-me para ficar um ou dois meses como diretor de uma publicação dedicada à moda e assuntos femininos - dos quais, nada entendia. Novamente ajudado por uma boa equipe (Vera Gertel, como chefe de redação, Gianni Ratto, na concepção das aberturas gráficas, Miguel de Carvalho na culinária e com Roberto Barreira, na sucursal de Milão, importantíssima para nós pela proximidade com a Mondadori, que ainda estava em Verona), toquei novamente o barco até que convenci Adolpho a me dispensar, chamando o Barreira para dirigir não apenas “Desfile” mas todas as revistas femininas do grupo, tornando-se editor de moda da própria Manchete.Também em outra crise, desta vez em “Fatos & Fotos”, pela primeira vez dirigi alguns números daquela revista, entrei em estranhíssima colisão com o superintendente do grupo, que numa heróica decisão chegou a se oferecer como meu chefe de reportagem. Foi uma das loucuras que bem davam o tom e o ritmo da empresa. Duas semanas depois, pedi ao meu chefe de reportagem que cobrisse a chegada ao Galeão de um jogador de futebol que estava em evidência, o chefe de reportagem não sabia quem era o cara. Demiti-o com alguma rispidez. Humildemente, com a expressão corporal adequada a qualquer demitido, e na condição de meu subordinado, Jaquito saiu da sua mesa levando seus trecos de trabalho, dirigiu-se ao corredor geral. De repente, voltou-se e já na condição de segundo homem da empresa, demitiu-me na hora, mandando que eu me dirigisse ao Departamento do Pessoal para acertar as minhas contas.Que nunca foram nem seriam acertadas, nem mesmo após a falência do grupo em 2000 e até o momento em que escrevo este depoimento, em fevereiro de 2006. Tão logo correu que eu fora demitido, Adolpho telefonou-me de Frei Caneca, dizendo que realmente eu estava demitido da direção daquela revista mas não da empresa, eu continuaria trabalhando no projeto das memórias de JK. Nas horas vagas, faria trabalhos e reportagens para Manchete, nem sempre assinadas por mim, mas por pseudônimos, alguns coletivos, como Juliano Palha e Jean-Paul Lagarride, outras com pseudônimo próprio, José Bálsamo, quando publiquei algumas matérias que considero das menos vergonhosas da minha carreira profissional.Outro pseudônimo que também arranjei, este anual, a cada ano que se iniciava, foi Robert MacPherson, que entrevistava com exclusividade mundial em sua casa de estilo Tudor, num subúrbio a 20 km de Londres, um vidente indiano radicado há anos na Inglaterra, chamado Allan Richard Way, um vidente que sofria de catarata e foi ficando progressivamente cego, até se tornar o único vidente cego da história. Ele via e adivinhava o futuro que eu inventava todos os anos. Na abertura de cada matéria, relacionava os fatos adivinhados por Allan Richard Way, arrolando como suas previsões o que acontecera no ano anterior, quem havia morrido, quem havia se separado, os conflitos que haviam estourado, as grandes tragédias, como o acidente com a nave espacial.Não sei se é verdade mas corria nas redações do Rio que a TV Globo, diante da magnificência do vidente-cego, mandou a diretora de sua sucursal em Londres localizar Allan Richard Way com as informações que eu dava, bairro, rua, estilo Tudor da casa. Não conseguindo, ela teria sido transferida para outra sucursal menos quente.Tema para os jornalistas meditarem: este vidente nunca foi desmentido, bastava consultar o número do ano anterior para ver que ele acertara pouquíssima coisa ou nada. Mesmo assim, era levado a sério, havia farta correspondência para ele, que me era encaminhada e que eu encaminhava para a lata do lixo. Houve um ano em que Allan Richard Way previu o desmoronamento de uma das pilastras da ponte Rio-Niterói. O Sérgio Ross, nosso ex-diretor de Brasília, trabalhava então com o ministro responsável pela ponte. Mandou-me dizer que a mesma ficara interditada dois dias enquanto equipes de manutenção inspecionavam pilotis por pilotis da Rio-Niterói. Bem sei que violentava um dos princípios básicos do jornalismo. Mas a revista do tipo de Manchete permitia certas incursões ao maravilhoso, desde que não prejudicasse nenhuma pessoa, grupo social, religioso, racial ou político, na realidade, a revista não falava mal de ninguém, não acusava ninguém, era otimista ao desvario, procurava ver o lado bom de tudo, o lado bonito e positivo. Mesmo assim, quem lesse com atenção e espírito crítico as previsões de Allan Richard Way, veria nas entrelinhas o caráter fantástico e o estilo de gozação de tudo aquilo. Esparramado pelo texto, iam diversas indicações de que tudo aquilo era inventado, uma página de humor, nada mais do que isso. Se alguns leitores levavam a sério, o problema não era meu. Tem gente que assiste telenovela, vê no supermercado a artista que interpreta a super-megera da trama e acredita que a atriz é mesmo aquela personagem e muitas vezes a agride com palavrões e até mesmo com ameaça de tapas e bofetões.Bem, fazendo um resumo desta fase profissional. A credibilidade do professor que morava num subúrbio a 20 km de Londres numa casa de estilo Tudor, foi arranhada em minha própria pessoa no dia 14 de março de 1985, véspera da posse de Tancredo Neves na presidência da República. O grupo Manchete ia lançar uma nova revista, “Fatos”, no estilo de “newsmagazine”, em substituição à tradicional “Fatos&Fotos”, da qual eu era pela terceira ou quarta vez diretor. Fora um projeto do Zé Esmeraldo, do J.A.Barros e meu, que vendi a idéia ao Adolpho e ele topou, não acreditando mais na vitalidade da própria Manchete. A equipe era boa: Arnaldo Niskier, Murilo Mello Filho, Alexandre Garcia, Marcos Santarrita, Regina Zappa, Sérgio Riff, Maria Ignês Duque Estrada, Lenira Alcure, José Rodolpho Câmara, Patrícia Kogut, Aldo Wasserman, Daisy Prétola, Alice Mariano, Antônio Carlos Miguel, Luís Carlos Sarmento, Ney Bianchi, Júlio Bartollo, Dalce Maria, tendo colaboradores permanentes, como Villas Boas Corrêa, José Augusto Ribeiro, Jayme Landman, Zevi Ghivelder, Arnaldo Niskier e Murilo Mello Filho. Naquele 14 de março, data de meu aniversário por sinal, logo após ter descido do almoço para ultimar a edição do nosso primeiro número, obviamente dedicado à posse de Tancredo, recebi um telefonema de pessoa ligada ao novo presidente, muito íntima aliás, mas que vivia praticamente na sombra. Ela me comunicou que Tancredo não tomaria posse no dia seguinte. Perguntei por que, se haveria um golpe inesperado do regime militar que estava em coma, vivendo suas últimas horas, ou qualquer outro tipo de impedimento. Não levantei a hipótese de doença, estivera dias antes com ele, me parecera ótimo, em plena forma, bebemos boas doses de uísque e ele me convidara para jantar em Brasília, justamente na véspera da posse, com cinco outros jornalistas. O Mauro Salles mais tarde me daria os detalhes, um jatinho viria me buscar.A pessoa não quis me adiantar mais nada. Disse apenas que Tancredo não tomaria posse. E só.Poderia dizer que fiquei “perplexo” mas não gosto de usar esta palavra. Mas que fiquei tonto, fiquei. Independentemente das conseqüências políticas daquela revelação, se verdadeira, preocupava-me a edição do primeiro número de uma revista em que me envolvera pessoalmente, arrastando uma equipe numerosa comigo. Chamei o Esmeraldo e o Barros, co-autores do projeto e respectivamente diretor de redação e de arte, e dei a notícia: “olha, não vai haver posse porra nenhuma”. Por solidariedade para com o Muggiati, que dirigia Manchete, a principal revista do grupo, também comuniquei a notícia que recebera, protegendo naturalmente a fonte. Acho que foi Muggiati quem avisou Adolpho, que já estava em Brasília, com traje a rigor e lugar garantido nas primeiras filas das solenidades. Adolpho telefonou-me imediatamente, irritadíssimo, chamou-me de louco, estava tudo pronto para a cerimônia do dia seguinte, posse no congresso, transferência da faixa no Alvorada, recepção ao corpo diplomático, tudo. Para me convencer, e bem ao estilo dele, passou o telefone ao Alexandre Garcia, que era então o diretor de nossa sucursal em Brasília. Garcia confirmou que estava tudo pronto, nos conformes da lei e da circunstância, não havia a mais remota ameaça de golpe de um regime militar em coma - fora por aí que Adolpho e Garcia pensavam ser uma alucinação de minha parte. Simplesmente eu não tinha suspeita alguma, limitava-me a comunicar ao dono da empresa em que trabalhava que eu recebera a notícia de pessoa que eu considerava altamente credenciada e responsável, que não iria dar aquela notícia a um amigo, amigo dela e do próprio Tancredo, se não tivesse um fundamento.Bem, a história é sabida, Tancredo foi internado naquela noite e não houve posse. Por algumas horas, as poucas pessoas (Muggiati, Adolpho e Alexandre Garcia) tomaram minha informação como um chute a mais do desmoralizado Allan Richard Way. As exceções foram o Esmeraldo e o Barros, que estavam no brinquedo, ou seja, com a responsabilidade de botar nas bancas o primeiro número de uma revista cheia de pretensões e que não poderia, iniciando sua carreira, publicar a posse presidencial que não haveria.Nem por isso, o karma do vidente-cego me abandonou. Na noite de 22 de agosto de 1976, fui com o Murilo Melo Filho ao Instituto Médico Legal, aqui no Rio, levar o recado de dona Sarah Kubistchek que desejava o velório de seu marido no hall do edifício da Manchete, uma vez que o Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo, fora o local prévia e apressadamente escolhido. No carro da Manchete, ao passarmos pelo Museu, Murilo e eu vimos gente varrendo o enorme hall do térreo e os primeiros preparativos para o velório.Chegamos ao IML. O carro com o logotipo da Manchete chamou a atenção da reportagem. Queriam saber o que dois diretores da revista estariam fazendo ali. Evidente que não estávamos ali como jornalistas, mas como emissários de dona Sarah às autoridades do Médico Legal sobre as últimas providências a respeito do velório e traslado do corpo para Brasília.O repórter Tarlis Batista, o mais furão e devastador que conheci, valeu-se da condição de colega, afastou-se dos demais repórteres e quis saber o que nos levara até lá. Pertencendo a uma revista semanal, não iria furar ninguém, nem rádio, TV e jornais que sairiam no dia seguinte. Se fôssemos raptar o corpo de JK ou verificar se ele havia mesmo morrido, o Tarlis só poderia dar o furo depois de toda a mídia ter furado o furo dele.Para resumir, disse que dona Sarah pedira que o corpo de JK e do motorista Geraldo fossem velados no hall da Manchete, apenas isso. Até aí, a responsabilidade deste relato é minha, de Carlos Heitor Cony, brasileiro, portador da carteira de identidade número tal,etc etc. Entra agora em cena o espírito de porco do vidente cego Allan Richard Way.Ao ouvir o que lhe comunicara, Tarlis disse o famoso “deixa comigo”, expressão generalizada em todo o mundo ocidental mas que parece ter sido inventada por ele. E sumiu na multidão que se espremia na calçada do IML. Subimos, Murilo e eu, atravessamos corredores sinistros, embaciados por lâmpadas mortiças que iluminavam corpos e pedaços de corpos. Fomos à sala onde estavam o genro do ex-presidente, Rodrigo Lopes, e o médico Guilherme Romano, cuja presença ali me causou tamanha estranheza que, anos depois, me levaria a escrever um livro com a repórter Anna Lee (“O beijo da Morte”, Objetiva, 2004). Neste livro, colocamos em questão as diversas versões sobre a morte de JK, embora não assumindo nenhuma delas por falta de provas realmente provadas.Demoramos no IML cerca de 15 ou 20 minutos. Ao sairmos e entrarmos no carro da Manchete que nos esperava, notei que um rabecão do próprio Médico Legal descia uma das rampas laterais que dão para a avenida Mem de Sá. Espantei-me ao ver Tarlis na boléia, ao lado do motorista. Com largos e enérgicos gestos, batendo com a mão na lataria da porta do veículo, como se marcasse o compasso imaginário de uma ordem policial, ele mandava que o pessoal ali aglomerado abrisse passagem para a viatura, tinha pressa, ele só realizava grandes missões e todas elas exigiam pressa. Não dei importância ao Tarlis estar na boléia do rabecão. Já o vira em condições e situações mais transcendentais. Conhecia todo mundo em todos os lugares, diziam que ele comera a atriz Bo Derek e que o Júlio Iglesias só fazia o que ele mandava, fora o único jornalista brasileiro que tivera acesso a Frank Sinatra na suíte que o cantor ocupava no então Rio Palace, hoje na rede dos hotéis Sofitel. Nada demais que arranjasse carona num rabecão que iria para onde ele desejava ir naquela noite.Murilo e eu voltamos a Copacabana para dar conta a dona Sarah de que havíamos transmitido sua vontade ao genro que ali representava a família de JK. Ao passarmos pela Manchete, embora fosse ainda noite, cerca de 3 horas na manhã, e estivéssemos numa pista distante da portaria, vi que havia um rabecão e movimento de caixões. Confesso que não vi o Tarlis, mas o adivinhei nas proximidades, ele sempre se anunciava à distância, como os tornados e as baterias das escolas de samba. Confesso também que tive uma suspeita cruel, uma suspeita formidável, mas nada disse ao Murilo, que estava tenso e comovido com os últimos acontecimentos que mexia tão de perto com ele, amigo íntimo de longa data de JK.Horas depois, voltei sozinho para a Manchete, levando dinheiro para comprar panos pretos a fim de montar no hall alguma coisa parecida com aquilo que os franceses chamam de “les pompes funèbres”. Dei o dinheiro ao Marechal, contínuo especial do Adolpho, que percorreu as lojas da rua do Catete que esgotaram todos os estoques de panos pretos.Armaram duas urnas simples, sem qualquer suntuosidade, cobriram com os panos pretos que também foram espalhados aleatoriamente pelo hall e o velório já estava em processo, com pessoas chorando junto aos caixões, inclusive o Tarlis, que a lenda garante que estava chorando no caixão errado ( era o único que não podia fazer isso).Por volta das cinco ou seis da manhã, o dia amanhecendo, já com bastante gente espremida no hall e outras chegando, inclusive o Elio Gaspari, vi chegar, em marcha lenta, um rabecão do IML. Por Júpiter! Poucas vezes vi tamanhas caras de estupefação. Tanto o motorista como o ajudante que ia ao lado dele olhavam pasmos o velório em marcha, os dois caixões sendo pranteados, tudo nos modos e cômodos de um velório pungentemente sentido e chorado.O rabecão quase parou na porta principal mas os funcionários do IML vendo, como Cristo, que tudo estava consumado, decidiram ir embora, levando a carga não sei para onde – acredito que nem eles sabiam. Pegaram o retorno da rua Silveira Martins com a praia, junto ao Palácio do Catete, passaram em marcha lenta do outro lado da pista, vi ainda a cara pasmada do motorista olhando para o hall e não querendo acreditar no que via. Como os motoristas de ônibus que atropelam transeuntes e se evadem - o rabecão tomou rumo ignorado.Não ouso acrescentar mais nada, tampouco concluir. Perdi contato com o vidente-cego Allan Rchard Way de maneira que no momento em que lembro esses fatos não posso consultá-lo. Voltando ao Adolpho, à revista “Fatos” e a mim mesmo.Provocamos forte reação em diversos escalões da empresa com a revista que ia mal das pernas e de tiragem. O esforço era grande mas lutávamos contra a má vontade de quase todos, com exceção do Adolpho, que nos dava tudo o que pedíamos. Ele me mostrava as cartas anônimas escritas na redação de outras revistas da própria empresa, chegavam a ele com denúncias que promovíamos orgias nos dias de fechamento, quando ficávamos até tarde no edifício deserto, orgias que se limitavam ao pão com ovo e a uma geringonça inventada pelo Evaldo, nosso contínuo principal (o outro era o Macarrão, que foi parar no JB). De um clips dos grandes, esticado rudemente em forma de seta, com uma rodela de papelão onde colocou os números de 1 a 35, de uma bolinha de pão do nosso pão com ovo, ele fez uma roleta artesanal. Enquanto esperávamos pelas últimas matérias ou fotos que viriam de Brasília, a turma de plantão jogava o mínimo de um cruzeiro por vez. No final da noite, um de nós saía com cinco ou seis cruzeiros a mais no bolso.O fato é que Adolpho decidiu fechar a “Fatos”, chamou-me, pediu a lista de todos os integrantes da redação, reportagem, arte, fotografia e serviços gerais, umas 30 pessoas.No dia seguinte, antes que eu chegasse, ele foi a cada um e colocou todos em outras revistas e serviços da casa. Não demitiu ninguém, empurrou com a autoridade de dono todos os nossos companheiros para outros cargos, inclusive contra a vontade de alguns dos nossos diretores, como foi o caso do pessoal da Rede Manchete de Televisão, que teve de engolir redatores e repórteres não sintonizados com os complicados meandros de uma televisão. Lembrando alguns casos: Esmeraldo foi para Manchete e Barros para a TV, no Departamento de Divulgação, com Edna Palatnik. Evaldo foi para o arquivo de fotos PB, o Wasserman para a TV. Alguns decidiram ir embora por conta própria ou porque tiveram melhores ofertas no mercado de trabalho.Quanto a mim, fui transformado à força em Superintendente Geral da Teledramaturgia, que estava sendo instalada. Levei projetos e sinopses, contratei o Wilson Aguiar Filho, roteirista da Globo, que estava encostado, fizemos pelo menos três novelas que valeram a pena: “A Marquesa dos Santos”, “Dona Beja” e “Kananga do Japão”, esta uma idéia antiga de Adolpho, que assinou a produção com o Wilson e comigo, uma vez que eram dele o cenário (uma antiga gafieira da Praça Onze), e o título (ninguém sabia o que era Kananga do Japão). Deixou o resto e a trama por minha conta e por conta do Wilson, que desdobrava os capítulos do roteiro básico que eu havia feito. Bem, vai longo este depoimento. Minha passagem (cinco anos) na teledramaturgia fizeram-me mal, tive um câncer ao qual sobrevivi, pedi demissão que foi negociada não em termos de dinheiro mas de tarefas, ficava em casa, sem salário (ganhava comissões da publicidade), mas continuava escrevendo crônicas para as revistas do grupo e editando números especiais, como o da “Manchete 2000”, comemorando o número dois mil da revista, e a “Manchete 40 anos”, comemorando as quatro décadas de presença ininterrupta da revista nas bancas. Fiz também duas ou três edições especiais sobre a Amazônia e outras em francês, para os 200 anos da Revolução Francesa e outra, a tarefa mais estranha de minha vida, em russo, quando Adolpho foi à União Soviética na comitiva do presidente José Sarney e bateu estranhíssimo papo com Korbachov, que se espantou da edição que havíamos feito. Os dois tiveram complicado e improvável diálogo na língua natal de ambos e descobriram que haviam sido amigos de infância.Foi na Manchete que fiz e conservei alguns dos amigos mais queridos. Por ocasião da falência do grupo, eu ocupava o antigo escritório de JK no 10º andar do 804, dava apenas uma assistência não mais às revistas, mas à diretoria, sofri com Adolpho o trauma das tentativas da venda da TV a outros grupos, convidei gente de fora para dirigir a revista principal mas os grandes nomes que contatei recusavam o convite quando tomavam conhecimento das dificuldades que a empresa atravessava. De um dos sucessivos e meteóricos compradores da TV, a IBF ( Indústria Brasileira de Formulários) cheguei a trazer, no bolso, um cheque equivalente a 3 milhões de dólares, Adolpho quis deixá-lo comigo, com medo de que ele próprio gastasse em qualquer projeto mirabolante que durante a noite lhe passasse pela cabeça. No dia seguinte, fui entregar aquele dinheirão ao Carlos Brandão, presidente do Banerj na gestão do Brizola. Suspeitando do cheque, Brandão não quis recebê-lo. Mandou que eu o colocasse sobre a mesa. Sem tocá-lo, com uma régua comprida, provavelmente esterilizada como uma pinça de cirurgia abdominal, empurrou-o para uma gaveta aberta e mandou verificar. Não tinha fundo. Uma pena. Foram 33 anos ao todo. Idade de Cristo. Não morri, é bem verdade, mas também não ressuscitei.[CARLOS HEITOR CONY]
A TORRE DE PAPEL
Uma Bond girl faixa-preta de caratê, um jornalista goiano, o escritor Fernando Sabino, uma temporada em Londres, um vestibular no Itamaraty, um dia como repórter de O Globo — foi esta estranha conjunção de pessoas e fatos que acabou me levando à Manchete. Em meados dos anos 1960 eu trabalhava na BBC de Londres e Narceu de Almeida era nosso colaborador no Serviço Brasileiro. Ficamos amigos e confidentes. Adolpho Bloch queria abrir sua primeira sucursal na Europa e pediu ao Sabino um nome para tomar conta da “loja” em Paris. Sabino indicou o Narceu. No final de 1965, eu tinha voltado ao Brasil, falhado no vestibular para a carreira diplomática e abortado uma carreira como repórter de O Globo. Incumbido de cobrir um encontro da Interpol no Hotel Glória, voltei à soturna redação da Rua Irineu Marinho, cujo astral me dava calafrios, bati a matéria, entreguei ao chefe de reportagem, o velho Alves Pinheiro, e saí sem me despedir e sem cobrar um centavo. Tinha começado a trabalhar aos 16 anos na Gazeta do Povo de Curitiba, fizera um curso de dois anos no Centre de Formation de Journalistes, em Paris, passara três anos na BBC de Londres e agora era o mais novo jornalista desempregado da praça.Estava sem saber o que fazer da vida, quando o Narceu — depois dos primeiros meses na sucursal da Manchete em Paris — veio ao Rio como convidado ao Festival Internacional de Cinema, que comemorava os 400 anos da cidade. Narceu chegou em grande estilo: trazendo a tiracolo (como se dizia na época) nada menos do que a atriz inglesa Honor Blackman, uma Bond girl que fazia sucesso em Goldfinger, não só por seus incríveis golpes de caratê, mas também pelas acrobacias na cama com o agente 007. Como o Narceu — uma cara excessivamente tímido — pegou a namorada do Sean Connery ninguém soube explicar. (Depois soubemos: o Sabino, como adido cultural do Brasil em Londres, foi encarregado de convidar tantas Bond girls quantas pudesse para o Festival do Rio.) Honor veio sentada ao lado do goiano com alma de mineiro no vôo Paris-Rio e não resistiu à sua conversa. A conquista de Honor Blackman — “mulher para 400 talheres”, como diria o Cony — rendeu ao Narceu um tratamento VIP na Manchete. Convidou-me para almoçar na redação da Frei Caneca e me apresentou à alta direção. Eu vinha de uma temporada de cinco anos na Europa e me chamaram para trabalhar como repórter especial.Os textos dos repórteres em Manchete eram triturados na redação, nas mãos de monstros como Magalhães Júnior, Joel Silveira e Carlinhos de Oliveira. Certa vez o Magalhães chamou o Clóvis Scarpino — um grandalhão que trabalhava como vigia noturno no Banco do Brasil — para comentar uma reportagem sobre os modismos do verão carioca: “Meu filho, do teu texto só aproveitei a palavra ‘verão’.” Scarpino, que era repórter assalariado e possuía alguma verve, replicou na hora: “É, imortal, o senhor tem razão. Eu sou mesmo um ‘débil mensal’...”Repórter raramente tinha contato direto com o chefão, mas um dia Adolpho me convidou para almoçar com ele e o Fernando Sabino. Queria tirar o Narceu de Paris e usou como pretexto uma foto seminua da namorada do Narceu — uma brasileira que trabalhava como aeromoça e queria ser manequim. A foto, feita por uma agência francesa, viera pousar, por uma terrível coincidência, na mesa de edição num momento em que o Adolpho bisbilhotava as fotos. Disse ao Sabino e a mim: “Vocês que são amigos dele vão concordar comigo, aquela mulher vai acabar com o Narceu!” Adolpho queria apenas, mesmo sem nos deixar falar, nosso aval para a decisão, que já tinha tomado, de trazer o Narceu para a redação do Rio. Na verdade, a história era bem outra: quando ia a Paris com a mulher, Lucy, ele gostava de ser tratado em grande estilo, de ser levado aos melhores restaurantes e espetáculos, e ficou chocado ao encontrar o Narceu e o fotógrafo Alécio de Andrade numa Paris bem diferente, enturmados com duas garotas maoístas — de boina com estrela vermelha e tudo mais — antecipando já o clima de maio de 68.Um grande salto à frente: é setembro de 1969, estou trabalhando na Veja, em São Paulo, e Adolpho me chama para conversar com ele numa segunda-feira tumultuada no prédio do Russell. O embaixador americano Burke Elbrick fora libertado no dia anterior, na frente de um Maracanã lotado para ver a seleção jogar, e aquilo era um prato cheio para o fechamento da revista. Uma das mensagens dos seqüestradores, dias antes, fora deixada diante do prédio da Manchete, nas vísceras da escultura de formas galináceas do Bruno Giorgi, apelidada de “o peru do Adolpho.” A conversa foi breve: Adolpho me convidou para voltar ao Rio e assumir a direção de Fatos e Fotos. Minha mulher não agüentava mais a solidão de São Paulo e eu topei. Tinha passado quase dois anos na Veja, trabalhando na dura fase inicial da revista. Ao deixar a Bloch, fui considerado um “traidor da pátria” por aqueles russos passionais — Otto Lara os chamava de Irmãos Karamablochs. (Na verdade, os irmãos de Adolpho, Bóris e Arnaldo, tinham morrido, mas havia outros “novos russos”: o Oscar, o Jaquito e uma corte de asseclas.) Um episódio eloqüente: quando fui para a Veja, tinha um livro meu já impresso na gráfica de Parada de Lucas, Mao e a China, com contrato assinado e tudo, e o Adolpho se recusou a lançá-lo, mesmo sob risco de prejuízo. Acabou passando o livro para o Hermenegildo de Sá Cavalcante, que já herdara das Edições Bloch o Sexus, do Henry Miller, traduzido por mim, e que lhe dera um dinheirão. Uma boa pergunta: por que a trilogia do Miller — Sexus, Nexus e Plexus — verdadeira mina de ouro, fora recusada pelo Adolpho? Um de seus assessores foi conferir os livros já impressos e ponderou com o Adolpho que ele não podia lançar aquilo, havia um excesso de palavrões. E o Adolpho concordou, com um exemplar de Sexus nas mãos: “Não é que você está certo, porra? Tem muito palavrão nessa merda! Mande esse tal de Henry Miller pra p.q.p!” Adolpho era o rei dos palavrões mas, na sua cabeça, palavrão falado era uma coisa e palavrão escrito outra. Confirmou-se também o que os veteranos da Manchete estavam cansados de saber: “O Adolpho emprenha pelo ouvido.”Os anos do Russell foram a época de ouro da Manchete. Adolpho levou um bom tempo dinamitando uma pedreira a fim de abrir espaço para o prédio de dez andares, fachada toda de vidro, projetado por Oscar Niemeyer. Em 1980, veio o segundo prédio, no local onde ficava o palacete do jornalista José Soares Maciel Filho, tido como o ghost-writer da carta-testamento de Getúlio Vargas. Era um prolongamento do primeiro prédio, colado a ele, com a mesma fachada do Niemeyer e alguns metros mais extenso. E, em 1986, veio um terceiro prédio, um novo prolongamento da fachada do Niemeyer, mas bem menor, no terreno de uma antiga casa. O prédio da Manchete, plantado à beira-mar na Praia do Flamengo, tornou-se uma espécie de farol para gente de todos os cantos do mundo — e até de um pouco além: já em seu primeiro ano, foi o cenário de uma ruidosa recepção para o primeiro homem que pisou na Lua, o astronauta Neil Amstrong, poucos meses depois do feito. A hospitalidade do Adolpho vinha de longe. Sartre e Simone comeram uma feijoada na Gráfica de Parada de Lucas e deixaram seus autógrafos num painel de madeira cheio de assinaturas famosas. Dizzy Gillespie e sua banda dançaram samba em Frei Caneca, Jean Shrimpton, a manequim da swinging London, também desfilou sua beleza por ali. Mas foi na Rua do Russell que brilhou a estrela do Adolpho. Lá ele encarou uma parada dura discutindo feminismo com Betty Friedan e um aguerrido grupo de redatoras, no auge do Women’s Lib; safou-se bem à sua maneira, culpando a Yiddish mame por seus cacoetes machistas. Os grandes cineastas também tinham Manchete como sua casa: no início dos 1970, em plena segunda-feira de Carnaval, Adolpho me tirou da revista para entrevistar o grande cineasta William Wyler. Liza Minnelli no auge da fama de Cabaré, aportou por lá, e também Jack Nicholson e Roman Polanski, na época em que tramavam Chinatown (tramavam também outras coisas e Polanski, flagrado com uma menor na casa de Nicholson, nunca mais pôde pisar nos EUA). Quase vinte anos depois, já casado com outra lolita, a atriz Emmanuelle Seigner, Polanski foi convidado para tomar um chá com Adolpho no restaurante da Manchete. Mas algo não ia muito bem e o casal ficou meia hora discutindo na rua antes de entrar — tinham acabado de filmar Lua-de-Fel. Finalmente subiram para o chá e Polanski disse “chá coisa nenhuma, eu quero uma boa vodca polonesa” e se pôs a falar em russo com Adolpho, deixando todo mundo no ar.A dona do Washington Post, Katherine Graham, visitou Manchete pouco depois que o seu jornal, com uma série de reportagens-de-investigação, decifrou a charada de Watergate e derrubou o Presidente Nixon. Como eu me virava bem no inglês, francês e italiano, Adolpho sempre me convocava para ajudá-lo a receber estes figurões. Ao sair, Ms. Graham teve de descer dez andares de escadas, por causa de um apagão. O pioneiro dos transplantes do coração, o cirurgião Dr. Christiaan Barnard, mostrou que seus dedos também eram ágeis no teclado e tocou no piano do décimo andar; o cãozinho amestrado do violoncelista e regente Mstislav Rostropovich fez o mesmo. Adolpho e Rostropovich se tratavam pelos apelidos russos, Abrasha e Slava. Certa vez Adolpho quis fazer uma gentileza e se deu mal. Exigiu que a mulher de Slava, a cantora lírica Galina Vishnevskaia, guardasse suas jóias no cofre da Manchete. No dia em que Rostropovich e Galina iam pegar o avião de volta para a Rússia, ninguém conseguia encontrar as chaves do maldito cofre; Adolpho ficou vexado e teve de mandar as jóias depois por courier, a um custo altíssimo. Algumas cabeças rolaram, como de costume.Realeza também punha mesa na Manchete. Dewi Sukarno, a bela ex-primeira dama da Indonésia, posou sexy para os fotógrafos em cima de uma mesa de mármore. A nada sexy princesa Alexandra, da Grã-Bretanha, foi homenageada com um almoço, em que — num tom protocolar — elogiou as mangas da sobremesa. Desde então, sempre que alguém viajava para a Inglaterra, Adolpho fazia questão de mandar uma caixa de mangas para a princesa (as frutas eram fatalmente confiscadas na alfândega.) A princesa Ashraf Pahlavi, irmã do Xá da Pérsia, presenteou o diretor da revista, Justino Martins com um caríssimo relógio de pulso, para desespero do Adolpho, que não engolia o gaúcho. Justino, cabeça fria, ficava sempre na dele e fazia calmas ponderações ao Adolpho, pontuadas sempre por um “Tchê”.A Manchete, na verdade, foi o fruto do casamento tempestuoso do empresário com o jornalista. No caso de Adolpho e Justino, os dois sempre mantiveram um corpo-a-corpo duríssimo. A seleção das matérias era discutida palmo a palmo e a escolha da capa era uma verdadeira briga de foice no escuro. Quando a revista vendia tudo, Adolpho se gabava: “Está vendo? Eu esgotei a edição!” Quando não vendia bem, Adolpho dizia ao Justino: “Viu só, Índio? Tu encalhou a revista!” Uma das grandes brigas dos dois tinha a ver com a construção de Brasília. Desde o início da empreitada, Adolpho, com o seu otimismo galopante, fez de Manchete uma espécie de órgão oficial de Brasília. Justino publicava aquelas matérias a contragosto e dizia que não passavam de “marreta”. O momento de glória chegou em 21 de abril de 1960 com um número especial sobre a inauguração da nova capital. Adolpho compareceu em grande estilo, mandou fazer fraque e cartola, trouxe pessoalmente as fotos do acontecimento e acompanhou cada passo do fechamento da edição histórica. Reprimindo toda a sua raiva diante da derrota, Justino só achou um modo de dar o troco, de um jeito sutil e cruel. Examinando as fotos ampliadas de Adolpho devidamente paramentado nas cerimônias, pinçou um detalhe e fez o comentário corrosivo: “Mas, Tchê, tu estragaste tudo: ninguém usa sapatos de furinhos com fraque e cartola...”Adolpho tentou tirar o Justino da direção da Manchete na virada dos anos 60/70, mas a coisa não deu certo e teve de chamar o Justino de volta. Justino fez charme, disse que tinha um convite para ser o RP da griffe de roupas e perfumes Grès, de Paris. Era uma armação, combinada com Madame Grès, velha amiga do Justino, que, consultada ao telefone por Adolpho, confirmou a história. Com isso o Justino, além de um belo salário, voltou à direção com um bônus de mil dólares, que Adolpho pagava religiosamente em cash no último dia do mês. Mas tirar o Índio da direção de Manchete era uma idéia fixa do Adolpho e ele atacou de novo em 1975. Disse ao Justino que precisava dele para criar uma revista de decoração, dispensou-o da Manchete e o homenageou com uma grande feijoada que reuniu centenas de pessoas no restaurante do terceiro andar. (Desde então, oferecer uma feijoada a alguém na Manchete virou sinônimo de “detonar” o sujeito.) Foi na feijoada do Justino que o ex-presidente Juscelino Kubitschek fez um discurso histórico, dizendo a certa altura (existem testemunhas): “Bloch, tu tens a melhor revista do Brasil, da América Latina, do Mundo — quiçá da Galáxia!...” A partir daquele dia, a revista passou a ser conhecida na redação pela alcunha de “a melhor da galáxia”.JK tinha um escritório no prédio da Manchete, onde despachava seus papéis, preparava a sua biografia, valendo-se de ghost writers como Caio de Freitas, depois Josué Montello e finalmente Carlos Heitor Cony — que a Bloch acabou publicando em vários volumes — e colaborava eventualmente com pequenos artigos para a revista. Quando morreu num desastre de carro na Via Dutra, Adolpho, chorando copiosamente, entrou na briga para prestar as últimas homenagens ao ex-Presidente — mais precisamente, na briga pelo corpo. Niomar Muniz Sodré queria que o corpo de JK ficasse no Museu de Arte Moderna, antes de seguir para o enterro em Brasília. Adolpho, chegando até a formar uma insólita aliança com Carlos Lacerda, ganhou a parada e JK foi velado no imponente saguão do prédio do Russell, ao pé da imensa escultura de Kracjberg, um emaranhado de galhos de árvore pintados de branco que subiam até o teto.Revelou-se a partir daí a vocação de Adolpho para caçador de corpos. Mas o saguão da Manchete ficaria reservado apenas para pouquíssimos happy few (se é que se pode chamar assim um morto): David Nasser, Justino Martins e o próprio Adolpho. Já durante o seu mandato como Presidente da Fundação dos Teatros do Rio de Janeiro, na segunda metade dos anos 1970, Adolpho correu sempre atrás de falecidos célebres do mundo artístico, levando-os para serem velados no saguão do Teatro Municipal (o velório do Ziembinski, que aparecia muito na TV, deu o maior ibope.)A paixão de Adolpho pela ópera expandiu-se no seu novo cargo na Funterj, onde recebia o salário simbólico de um cruzeiro. Adolpho pôde dar vazão à sua paixão pela ópera — que vinha desde os tempos de garoto em Kiev, onde seu pai imprimia os libretos do Teatro da Ópera. Colocou toda a estrutura da Manchete — inclusive os serviços de engenharia, carpintaria e marmoraria — a serviço dos teatros cariocas, principalmente do Municipal, que estava praticamente destruído. Lá, Adolpho montou uma série de óperas que culminou com a famosa produção da Traviata por Franco Zeffirelli. A estréia de gala trouxe ao Rio celebridades do mundo inteiro (lembro da atriz Ursula Andress brilhando na platéia, escoltada pelo galante Célio Lyra, um dos descobridores da Xuxa na Bloch.) A vinda de Zeffirelli provocou um pequeno incidente no Russell. A nova mulher de um grande empresário do ramo editorial italiano tinha pretensões de tornar-se diva e veio ao Rio para assediar Zeffirelli, que rodava pela cidade com sua cadelinha de bolso na caminhonete de reportagem da Manchete. A aspirante a Callas conseguiu, finalmente um teste, mas precisava de um piano para ensaiar. Adolpho, que se encantou menos pela voz da moça do que pelo “conjunto da obra”, arquitetou uma maneira de encontrá-la a sós no salão do décimo andar, onde havia um Steinway de cauda — e também uma profusão de sofás e almofadões. Deu instruções precisas para que o avisassem quando a jovem chegasse à portaria do prédio. O chefe dos porteiros na época era um português baixote, Seu Álvaro — apelidado de Topo Giggio — metido a conhecer mil e uma línguas. Quando chegou uma gringa falando arrevesado, não teve dúvidas: mandou-a subir e avisou o Seu Adolpho. Chegando ao décimo andar, Adolpho teve um choque: a estrangeira era uma professora sessentona de Milwaukee que queria conhecer a Pinacoteca de Arte Brasileira da Manchete, que ficava no segundo andar. A gafe valeu ao Topo Giggio a destituição do posto. Tempos depois, ele morria, inaugurando um serviço de saúde barato — e de péssima qualidade — que a Bloch contratara para seus funcionários.Outro que mantinha uma disputa feroz com o Adolpho era o Magalhães Júnior. Seu colega de Manchete, o ferino Sérgio Porto, dizia que toda vez que o Magalhães pegava uma caixinha de fósforo as pessoas pensavam que ele ia viajar. Baixinho e troncudo, com um olho de vidro, Magalhães, embora não tivesse o physique du rôle, era um conquistador infatigável. Certa vez, a caminho do trabalho no seu fusca, topou numa esquina com uma vendedora de jornais de shortinho justo e parou o carro. Mandou a moça colocar no carro toda a pilha de exemplares da Última Hora, que pagou na hora, e a obrigou a embarcar também. As brigas do Magalhães com o Adolpho tinham a ver principalmente com o ar condicionado, que só era ligado mediante ordem do Adolpho, para economizar a conta da Light. As janelas de vidro do Russell, que só abriam parcialmente, faziam com que, ao menor raio de sol, — de manhã ele batia de frente — o prédio virasse uma fornalha. (Intencionalmente ou não, o marxista Niemeyer tinha aplicado a teoria da luta de classes à sua própria arquitetura.) O Magalhães tirava a camisa, exibindo o torso suado, no qual colava uma lauda (às vezes grudava uma lauda na testa também) e descia para brigar com o Adolpho, que começava a manhã no primeiro andar enfrentando os dragões bancários e, por isso mesmo, estava sempre com um humor de cão. Mas a visão do Magalhães seminu o vexava de tal maneira que Adolpho mandava logo ligar o ar — mas só no andar da Manchete.Quando o ar condicionado deixava a redação em clima de montanha, Magalhães às vezes resmungava e enfiava uma boina azul — um béret basque — para aquecer a calva. Ele fazia seu próprio horário: chegava de manhã bem cedo e saía logo depois do almoço, lá pelas três da tarde. Tinha um talento incrível para traduzir e condensar longos textos. Quando editava a Manchete eu gostava de provocá-lo. Na terça-feira passava às suas mãos uma nova biografia de alguma celebridade recém-lançada nos EUA ou na Europa, aqueles livrões de 800 páginas que entravam direto na lista dos best-sellers. E avisava: é para fechar o caderno de quinta-feira. O Magalhães chiava, mas logo mergulhava no trabalho. Ia lendo e marcando a lápis no primeiro dia, no segundo punha-se a datilografar, metralhando o teclado com dois dedinhos. Geralmente, ao voltar do almoço na quarta-feira — um dia antes do prazo fatal — jogava o livro sobre a mesa do editor, com pelo menos vinte laudas de texto dentro dele, e despedia-se: “Bom, meu filho, não abuse. Je m’en vais...”Uma manhã num começo de dezembro Magalhães comentou comigo que estava cansado de viver. Dias depois, atravessando a rua em frente à Manchete (vinha de táxi, mas descia do outro lado), foi atropelado por um fusca e morreu uma semana depois. Outro atropelado bem diante da porta da Manchete foi o Otto Maria Carpeaux, mas sofreu apenas leves escoriações. Durante anos, ele ia entregar pessoalmente a sua colaboração para a série “As obras-primas que poucos leram”. De pé diante do editor, com uma Bic azul, fazia as últimas correções no texto, meticulosamente datilografado por sua mulher. As mandíbulas matraqueavam estranhamente quando falava, embora falasse raramente. O negócio do Carpeaux era mesmo escrever. Manchete sempre atraiu jornalistas que também eram escritores — poetas, romancistas, ensaístas. Muitos não se deram bem com o Sistema. João Antônio, o contista premiado de Malagueta, perus e bacanaço era repórter e teve um texto duramente criticado por Magalhães Júnior. Ao voltar para casa, sofreu um ataque de nervos, quebrou tudo o que havia para quebrar e a mulher o levou para o Pinel. O poeta Paulo Leminski, polaco de Curitiba avesso à autoridade, também passou uma pequena temporada escondido no departamento de pesquisa. Gente que depois pontificaria nas artes também passou anonimamente por lá. O dançarino Carlinhos de Jesus quase quebrou os preciosos pés chutando a porta de um elevador de carga em que ficou preso e foi embora da firma. Júlio Barroso, correspondente em Nova York, fez uma reportagem sobre a New Wave, voltou para São Paulo, virou roqueiro, liderando a Gang 90 e as Absurdetes, e teve uma morte estranha: caiu dormindo da janela do seu apartamento no Itaim-Bibi. Ronaldo Bôscoli — que se tornaria um grande letrista da bossa nova — aprontava tantas que era sempre demitido, mas depois readmitido. Da última vez, sua mãe ligou para o Jaquito dizendo que o Ronaldo não iria trabalhar porque estava com uma febre muito alta. Jaquito não entendeu nada, o Ronaldo estava ali na redação à sua frente. Sem perder a pose, Ronaldo pegou o telefone e disse: “Pô, mãe! Essa desculpa era para amanhã...” Foi a sua última demissão. Leo Gandelman foi fotógrafo na Bloch, depois decidiu estudar saxofone e iniciou uma nova carreira. Rubem Gerchman, chefe de arte da revista feminina Jóia em Frei Caneca, no auge da pop art, fez uma edição toda inspirada em histórias em quadrinhos. Coisa de muito bom gosto, mas não avisaram ao rapaz que o Adolpho detestava quadrinhos e ele foi demitido. (Algumas idiossincrasias do Adolpho tinham motivos bem concretos: odiava quadrinhos porque perdera o filão para um editor concorrente, ainda por cima judeu.) Paulo Coelho foi durante um ano nosso correspondente em Londres, lembro um texto seu sobre a despoluição do Tâmisa que não prenunciava em nada o sucesso do Alquimista. Ah, sim, e tinha um repórter chamado Gilberto Tumscitz (Tum Tum para os íntimos) que acabou ficando milionário, escrevendo novelas para a Globo com o nome de Gilberto Braga.Se tivesse de escolher o “meu tipo inesquecível” da Manchete não vacilaria: Flávio de Aquino. Quando nasceu, uma legião de anjos lhe disse: “Vai, Flávio, vai ser gauche na vida...” Era um gauche adorável. Catarinense de Florianópolis, filho de senador Ivo de Aquino, veio cedo para o Rio, onde o pai participava daquelas disputas homéricas entre PSD e UDN (o Fla-Flu da política brasileira) no Palácio Monroe, na Cinelândia, demolido pela ditadura nos anos 1970. Formado em arquitetura, profundo conhecedor da história da arte, Flávio tinha muitos outros interesses, mas era particularmente obcecado pela Segunda Guerra Mundial. Sabia tudo, desde os nomes dos personagens da hierarquia nazista até os cacoetes dos grandes generais aliados, passando por peculiaridades sobre a marinha japonesa e as preferências sexuais da Rosa de Tóquio. Além do saber convencional, Flávio tinha uma inteligência original e era um grande criador de frases. Talvez por influência da guerra, costumava dizer que “todo bebê tem cara de Churchill.” Propunha que o indivíduo, à medida que ganhasse idade, ganhasse também “um desconto na lei da gravidade.” Flávio esbarrava o tempo todo nas coisas à sua volta. Eu proporia que ele tivesse direito também a um desconto no Princípio da Realidade, pois era totalmente alheio e distraído. Na época em que os redatores ainda datilografavam nas suas ruidosas Remingtons, o Flávio, quando errava, se recusava a anular o erro com os clássicos xxxxxxxx. Com uma borracha, apagava meticulosamente o errado e escrevia o certo no seu lugar. O problema era que, toda vez que um erro ocorria, o Flávio não conseguia encontrar a maldita da borracha. Tateava na sua mesa à volta da máquina, mas a borracha ou tinha ido ao chão e fora chutada para longe por um passante, ou caíra no cesto de papéis, ou... enfim, as hipóteses eram infinitas. Com o pouco de racionalismo adquirido em quatro anos de faculdade de engenharia, resolvi a questão fazendo um furo no centro da borracha e amarrando-a por um barbante à máquina de escrever do Flávio. Ao errar na datilografia (evito o termo digitação), Flávio tinha apenas de achar o fio da meada e, puxando o barbante, fisgar a borracha. Como perdia constantemente os óculos, usava a mesma técnica para não se separar deles — a cordinha que os prendia ao pescoço. Durante o almoço, Flávio deixava os óculos penderem sobre o peito. Fatalmente, sobras de comida caíam sobre as lentes. Quando voltava à redação, todos podiam ler o cardápio do dia nos seus óculos. Flávio pertenceu àquela boemia carioca braba dos anos 1950 — Vinicius de Moraes, Sérgio Porto, Ronaldo Bôscoli, Paulo Mendes Campos, Lúcio Rangel, Fernando Lobo e Antônio Maria. Tem uma foto em que ele aparece no meio desta turma toda, fazendo palhaçadas com um copo na mão, reencarnação perfeita do ator James Cagney. Era o pessoal que se reunia no Villarino, na época em que as “whiskerias” ou “uisquerias” ainda não usavam este nome. Existe uma explicação de fundo sociológico para estas rodas etílicas: a rapaziada era toda cabide-de-empregos dos IPASES e IAPETCS da vida, batia o ponto (mais do que dava expediente) no centro da cidade e morava na Zona Sul. A volta para casa às seis da tarde era um pega-pra-capar, com os lotações devidamente lotados e as precárias “lotadas” de táxis ou até de carros particulares. Que melhor maneira de fazer hora senão jogar um papo fora ao redor de alguns litros do bom escocês? Lá pelas nove, ou dez da noite, a coisa serenava e começava o lento êxodo de regresso ao lar — quando não havia uma “esticada” qualquer, uma vernissage ou noite de autógrafos, ou então — para aqueles conjugalmente mal-resolvidos — um mergulho nos inferninhos até alta madrugada.Com o tempo, a coisa melhorou, JK inventou o carro nacional e os VWs e DKWs começaram a tomar conta das ruas, imiscuindo-se entre os Cadillacs rabo-de-peixe importados e os velhos bondes. Flávio comprou o seu carro, mas foi um problema a mais na sua vida. Quando o guardava num estacionamento, não conseguia encontrá-lo depois. O vidro traseiro tinha um adesivo do Botafogo, mas, na época de Mané Garrincha, quase todos os carros usavam o distintivo da Estrela Solitária. Flávio acabou encontrando um método infalível de localizar o carro: esperava que o estacionamento esvaziasse até restar apenas um último automóvel, o seu.Flávio de Aquino era o redator exclusivo das matérias de artes plásticas na Manchete. A tarefa não exigia apenas um escritor, mas um negociador, diplomata, relações públicas e mil outras coisas — como beber com o companheiro da Djanira, o Motinha, nada menos do que o homem que inspirou o personagem do conto Quincas e o berro d’água de Jorge Amado. Adolpho Bloch não dava reportagens de graça para pintores, mas permutava as páginas da Manchete por telas ou esculturas. Era um toma-lá-dá-cá interessante. Manabu Mabe viu sua cotação no mercado de arte subir astronomicamente depois das primeiras fotos publicadas em cores. E Adolpho construiu uma fabulosa pinacoteca de arte brasileira. Dá para imaginar o quanto o Flávio era assediado por artistas de todos os matizes pedindo matérias na Manchete. Às vezes aquela doce criatura perdia até a paciência. Um dia, ao atender pela décima vez a chamada de um pintor concretista que havia trabalhado na diagramação da Manchete, o Flávio — tomando o cuidado de colocar a mão sobre o fone, só que sobre o bocal de escuta e não o bocal da fala — urrou ao telefone: “Eu não agüento mais este Ivan Freitas!” Por uma coincidência incrível, entrava na redação naquele exato momento o Ivan (Chagas) Freitas e, como não podia deixar de acontecer, achou que a bronca era com ele. Viera dar um depoimento ao Flávio para uma série sobre conflitos entre pais e filhos (Ivan era filho do governador Chagas Freitas). Rapaz complicado, meses depois morreu de forma trágica, num surto em que bateu com a cabeça várias vezes nas paredes de prédios em Ipanema. O coitado do Flávio não conseguiu evitar uma ponta de culpa no episódio, pela desastrosa gafe do berro ao telefone.Flávio não escrevia só sobre arte. Uma de suas maiores façanhas foi preparar uma longa série sobre a História dos Papas. Lembro do corpo-a-corpo com ele para selecionar pela ordem cronológica as imagens dos pontífices, um verdadeiro álbum de figurinhas comprado de uma editora italiana: uma sucessão de Adeodatos, Agapitos, Anacletos, Anicetos, Beneditos, Bonifácios, Clementes, Eusébios, Gregórios, Honórios, Inocêncios, Pelágios, Silvestres, Urbanos, Zacarias, Zeferinos. A série deu um trabalho imenso e o seu término foi comemorado com um grande jantar oferecido por Flávio em seu apartamento na Lagoa. Flávio e a mulher, Ceres, estavam entre os melhores anfitriões do Rio de Janeiro.A última imagem que me ficou de Flávio parecia coisa de um filme de Fellini. Fomos ao sítio do Burle Marx num sábado fazer uma reportagem com o mestre-paisagista. Burle levou-nos para inspecionar uns portais e janelas que havia comprado na demolição de um prédio antigo no centro do Rio. Sobe ladeira, desce ladeira, o Flávio — nos últimos tempos, com crise renal, fazia regularmente hemodiálise — chegou cansado à saleta escura onde Burle Marx, também exímio pianista, tocava os primeiros acordes de uma peça de Bach num velho harmônio de igreja. Flávio viu um velho sofá de couro e desabou sobre ele. Do sofá, cheio de furos, jorrou uma infinidade de pequenas penas brancas que, depois de atingirem o teto, foram caindo sobre a sala, lenta e silenciosamente como a neve. Flávio morreu em janeiro de 1987, aos 67 anos, e foi enterrado no dia de São Sebastião na cidade que sempre amou.A Manchete sempre atraiu personagens de todos os matizes que, embora representando uma engrenagem a mais na máquina, tinham a sua história pessoal muito rica. O gaúcho Sylvio Silveira fugiu da mulher e foi parar em Paris nos anos 1950. Ninguém sabe como ele, que nem músico era, de repente liderava a melhor orquestra de dança da França. Sylvio não soube administrar o seu sucesso e perdeu o lugar para o Eddie Barclay, que virou um magnata da música e dos discos na França (ambos eram trogloditas em matéria de música, Sylvio dizia que bastava “benzer” a orquestra com uma maraca.) Assim, Monsieur Silverá virou o factotum de Adolpho Bloch em Paris. Tornou-se a eminence grise do escritório da Manchete em Paris, plantado num pequeno prédio na Avenue Montaigne, diante do Plaza Athenée e do Théâtre des Champs Elysées, que foi o palco da revolução modernista do século 20, encenando A Sagração da Primavera do Stravinsky com os Ballets Russes em 1913. A cobertura do prédio era ocupada por Marlene Dietrich, que costumava tomar banho de sol nua. Sylvio não era jornalista, mas, como homem de confiança do Adolpho, velava por tudo. No auge da ditadura militar, os Bloch ofereceram um jantar ao todo-poderoso Ministro da Economia Delfim Neto e o Sylvio botou os jornalistas da sucursal (quase todos comunas e exilados) a descascar batatas para o regabofe do Delfim. Entre os jornalistas, estava Ivan Alves, o Pato Rouco, amigo do peito do Oscar Niemeyer, revoltado por ser submetido àquele papel. Depois de décadas de Paris, o Sylvio — além de ser um verdadeiro mestre em preparar as malas da família Bloch e de seus agregados, talento que os Bloch enalteciam não sem um certo toque de desdém — tornou-se exímio nas artes da culinária. Lembro uma de suas performances no Brasil que, graças ao carma azarado do Oscar, se transformou num verdadeiro desastre. Chegado de Paris, o Sylvio iria preparar no apartamento do Oscar na Avenida Atlântica um canard à l’orange especialíssimo, com ingredientes que trouxera de Paris. Inadvertidamente, Oscar deixou a infra-estrutura a cargo do Severino, que via no Sylvio uma ameaça à sua hegemonia gastronômica na Bloch. Dezenas de editores e altos funcionários — que precisavam acordar cedo no dia seguinte — ficaram horas à espera de que os patos fornecidos pelo Severino descongelassem, pois haviam chegado duros como iceberg à cozinha do Oscar. Apesar do boicote ostensivo, o elegante Sylvio tentou dar o melhor de si, mas acabou pagando o pato.Um episódio que será toda vez narrado numa versão diferente é o do peixe na mesa do Cícero Sandroni, hoje imortal. (Fala-se de uma Máfia da Manchete na ABL: além do Sandroni, já foram eleitos Lêdo Ivo, Arnaldo Niskier, Murilo Melo Filho, Josué Montello, Carlos Heitor Cony.) Contista, sujeito sensível em fase de mudanças, submetendo-se a psicanálise, o Cícero era chefe de redação. Sua mesa ficava em local de destaque diante da mesa-balcão do editor, em forma de L, com a sua grande “churrasqueira” — uma longa banda de vidro leitoso, iluminada por uma bateria de lâmpadas fluorescentes, em que eram examinados e selecionados os cromos. Adolpho não admitia erros, principalmente de pessoas próximas e, principalmente, de parentes. Em mais um dos seus vacilos, Jaquito foi mandado de férias forçadas para Cabo Frio, com direito à lancha da Manchete. Não agüentou por muito tempo o ostracismo (literal) e, para agradar o Adolpho e aprontar uma volta triunfal, comprou um peixe imenso, um robalo ou cherne com quase um metro de comprimento. É claro que o Jaquito disse que tinha pescado o bicho ele mesmo. Adolpho, excitado, mandou o famoso Severino (Ananias Dias), preparar o peixe. Orgulhoso da obra do seu chef de cuisine — parecia até uma peça de ourivesaria que Benvenuto Cellini preparara para o Papa — Adolpho decidiu exibir na redação o prato, que seria saboreado num almoço para a direção e os editores da Casa. O garçom, devidamente paramentado, de luvas brancas, trouxe o peixe numa imensa bandeja de prata e o depositou sobre a mesa do Cícero, que tinha ido ao banheiro. Quando voltou e viu a travessa de peixe sobre sua mesa, Cícero teve um ataque e demitiu-se na hora, mas Adolpho não o deixou sair da Manchete e, como prêmio (ou castigo?), o colocou na chefia da reportagem. Corre a história de que, ao ouvir o relato do insólito episódio, o psicanalista, falou gravemente para o Cícero: “Sr. Sandroni, não acha que está exagerando um pouco nas suas fantasias?”Outras lembranças: a do poeta Sebastião Uchoa Leite quase chegando às vias de fato com o chefe-de-redação, o cineasta Maurício Gomes Leite, durante o fechamento da matéria sobre o incêndio do edifício Andraus em São Paulo. Uchoa largou os leiautes em cima da mesa e nunca mais voltou — ele que já na época havia poetado o seu próprio epitáfio: “Aqui jaz/ para o seu deleite/ Sebastião Uchoa Leite.” Houve também o descompasso do redator Lago Burnett — brilhante autor de A Língua envergonhada — que abandonou a redação na tarde de fechamento de uma “matéria paga” sobre Santa Catarina, levando no bolso a carta do governador catarinense que abria a “reportagem” de 30 páginas. Adolpho mandou o Marechal, o chefe dos contínuos, à procura do Burnett de bar em bar. Não lembro o desfecho da história mas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos.O etilismo era o pior inimigo dos fechamentos da Manchete. Carlinhos de Oliveira, um texto maravilhoso, odiava ter de corrigir os textos dos outros e muitas vezes ia afogar as frustrações num almoço escocês e não voltava mais para a redação. Nos bons tempos, os repórteres das sucursais vinham fechar suas matérias na redação do Russell. Ficavam hospedados no Hotel Novo Mundo, quase ao lado da Manchete, e passavam dois dias no Rio só para o fechamento. Um destes, o Júlio Saraiva, de São Paulo, foi almoçar num restaurante do Catete com o colega do Rio, Luiz Carlos Sarmento, e desmaiou de tanto beber. Na época a rua do Catete, com a construção do Metrô, se transformara numa vala a céu aberto, toda enlameada. Sarmento, apesar de meio alterado, não vacilou. Confabulou com um operário, alugou um carrinho-de-mão, incorporando o peão como carregador, e desovou o Saraiva na portaria do Novo Mundo. E ainda gritou ao pessoal atônito da recepção: “Bota os dez paus do carreto na conta do 703!”Havia aqueles que bebiam na moita, profissionais que nunca criavam problemas. Um deles, o Ronaldo Alvarado — sujeito calado e manso que se escondia atrás de uma barba grisalha — especializou-se em matérias sobre a “Repolhinho”, uma boneca de pano que fazia sucesso na época. Era o típico jornalista sem filhos, com mulher que trabalha fora, mas instilava um carinho de mãe em seus textos sobre a bonequinha. Na hora do almoço, o Alvarado descia até o pé-sujo ao lado da Manchete e pedia um copázio, metade gim nacional, metade amargo Underberg — uma bomba de alguns megatons. Voltava à redação devidamente calibrado, mas sempre com a aparência sóbria e a conduta elegante. Um dia, Alvarado não voltou mais. Passou semanas prostrado na cama com cirrose, até que chamou a mulher: “Nêga, traz a saideira...” Quando a mulher voltou, com a mistura habitual, já estava morto.Da maré humana que escoou por Manchete ao longo das décadas, havia aquela que chafurdava na lama, nos subterrâneos obscuros da Bloch. Era a raça dos “siris”, como eram chamados os contínuos. Camisa azul claro, calça azul marinho, eles percorriam todos os andares da casa e — além dos serviços básicos como ir aos bancos e pagar as contas — executavam também as mais insólitas tarefas. Alguns contínuos fizeram o seu nome no prédio do Russell: um deles o fez literalmente, Tim Lopes — o repórter policial martirizado pelos traficantes — que ganhou na Manchete o apelido por sua semelhança com o cantor Tim Maia. Havia também o Sammy Davis, muito parecido com o cantor americano. Sammy prometeu a Adolpho que convenceria a dona da casa vizinha a vender o terreno para ele. Depois de uns cinco anos de conversa, a velha senhora cedeu e Adolpho pôde construir o seu terceiro prédio, colado aos outros. Se Sammy levou a almejada comissão — de um ou de outra, ou de ambos — ninguém ficou sabendo. Um contínuo do Justino, o Rosinei, que levava revistas e jornais para o escritor francês Jean Genet, hospedado ao lado, no Hotel Glória, acabou virando caso do escritor, que ficou alguns meses no Rio. Genet almoçava todo dia no restaurante do Russell, até que um dia o Oscar, primo do Adolpho, pôs um fim à boca-livre. Rosinei parece ter gostado da sua nova atividade e também prestou serviços de delivery sexual para uma ex-repórter que tinha virado autora best-seller e escrevia em casa suas colaborações. Em 1971 trabalhei na redação do EleEla, dirigido pelo Cony. Não eram permitidos nus, as moças apareciam de biquíni, e os textos eram bem comportados, mas a ditadura militar exigia que todas as revistas masculinas fossem submetidas a censura prévia. Antes da revista ser impressa, todas as páginas, já em arte final, eram levadas pelo contínuo à casa da censora — não sei por que, no caso do EleEla o censor era uma mulher. Certa vez, o Netto, que fazia este serviço, foi recebido pela censora num peignoir transparente. Rapaz sério, recém-casado, Netto — superado o choque inicial — desculpou-se polidamente dizendo que tinha de “fazer os bancos” e voltaria mais tarde.Contínuo era uma profissão de alta rotatividade na Bloch. Como o mordomo dos romances policiais, o contínuo era sempre o culpado. E na Manchete, o setor mais nervoso da empresa, a toda hora tinha “siri” fritado. (Ironicamente, o restaurante, na sua melhor fase, chegou a incluir frigideira de siri no seu cardápio.) O novo contínuo chegava sempre desconfiado, com o rabo entre as pernas, achando que iria sobrar para ele. Em meados dos anos 1970 apareceu um destes, o Paulinho, garoto sério, tratando todo mundo de senhor, sem nenhuma intimidade. João Luiz Albuquerque, o chefe de reportagem, já nos primeiros dias falou: “Eu conheço esse cara de algum lugar.” E ficou semanas matutando. Um belo dia, com um sorriso de triunfo, João Luiz exibiu um exemplar da coleção de Fatos&Fotos do início dos anos 1960. O nosso Paulinho era o famoso Pablito Cubano, menino pobre da Baixada que viajara no trem de aterrissagem de um avião do aeroporto do Galeão até Havana. Recebido com honras de chefe de estado por Fidel Castro, Paulinho foi repatriado e voltou ao Rio de avião, desta vez numa confortável poltrona.Uma classe que não se pode omitir quando se fala da Manchete é a dos “artistas”. Era assim que chamávamos os paginadores, chefiados pelo Wilson Passos, codinome Bangu, em honra ao bairro onde morou eternamente. O Passos fez desde a primeira Manchete até a penúltima: quando o computador entrou em cena, não teve saco para a engenhoca. Era projetista aeronáutico, mas se deu bem no que então se chamava de paginação — depois diagramação. Chefiava dois outros paginadores, o Nelson Gonçalves e o Pedro Guimarães, que morreu na véspera do Carnaval de 1980 e foi sucedido pelo João Américo Barros, que começara em O Cruzeiro. Os três ocupavam pranchetas colocadas lateralmente à mesa do editor, como uma espécie de trenzinho, com o Passos no lugar da locomotiva. Eram figuras introvertidas, falavam pouco e para dentro, Passos era um chefe monossilábico mas sabia ser duro quando queria. De vez em quando, geralmente pelo fim da tarde, quando do outro lado das vidraças se armava nos céus um daqueles típicos temporais cariocas, estourava lá dentro uma verdadeira tempestade entre os três “artistas”. Nelson chutava a mesa, ameaçava ir embora, seguia até o elevador, ia tomar um cafezinho, dez minutos depois voltava. Antes da informatização, os leiautes da Manchete eram feitos de maneira artesanal. Como a revista era quase toda em cores, as fotos eram projetadas dentro do seu espaço na página, com os devidos cortes, e tinham seus contornos desenhados a lápis. O paginador levava uma folha de papel, contendo o formato de uma página dupla da revista, à sala de projeção, toda às escuras, projetava a foto no papel, preso à parede por fita crepe — desenhava na vertical, portanto — copiando os contornos da foto. Este processo era chamado pelo bonito nome de “prismagem”. Às vezes, o paginador incorria no erro de projetar a foto invertida. O negócio era sempre conferir a parte do cromo que tinha o brilho da gelatina. Coisa que o grande pintor Jener Augusto desconhecia. Certa vez, fascinado com as fotos panorâmicas do Rio tiradas por um novo tipo de máquina, pediu um cromo emprestado ao Adolpho para fazer um quadro. No dia de exibir a grande tela, com dez metros de comprimento, na sala do Adolpho, colada à redação, a sua paisagem mostrava o Aeroporto Santos Dumont à direita e o Pão de Açúcar à esquerda — o Jener simplesmente projetara a foto invertida na tela e gastara quilos de tinta para pintar a inútil paisagem. (Não sei se o quadro foi destruído, mas hoje valeria muito...) Nelson Gonçalves era um mestre da projeção, fazia os contornos das fotos com uma riqueza de detalhes impressionante. Era o Picasso da Prismagem, como diria outro Nelson, o Rodrigues, que também trabalhou na Manchete (Esportiva), onde passava horas ao telefone namorando. Certa vez insisti com Nelson Gonçalves para que desenhasse os contornos das projeções com lápis de cor, para fazermos uma exposição no MAM — “A Arte Prismática de Nelson Gonçalves”. Mas um câncer tirou o Nelson de campo, a arte da prismagem foi desaparecendo quando as hordas brancas do exército de computadores invadiram as redações e a Manchete — ainda sem decidir se queria ser uma empresa familiar ou uma empresa capitalista moderna — mais do que um Titanic soçobrado, ficou plantada como um imenso icebergue negro, um monólito de 2001 (o fim chegou antes, em 1º de agosto de 2000), suas portas monumentais fechadas e lacradas pelo Juizado da 5ª Vara de Falências e Concordatas. Mas as memórias continuam guardadas dentro da imensa caixa preta, para serem descerradas aos poucos, por este ou aquele, enquanto existir ainda alguém para lembrar. [Roberto Muggiati]
Uma lição de generoso entusiasmo
Por mais de 40 anos, o médico e acadêmico Ivo Pitanguy, referência internacional em Cirurgia Plástica, freqüentou não apenas as páginas das revistas, mas a intimidade da família Manchete. Nesse círculo que incluiu Adolpho Bloch, seus mais próximos colaboradores e até JK, ele viveu momentos de intensa alegria e mútua admiração, sentimentos que relembra agora nesse depoimento :“A minha amizade com o Adolpho (Bloch) e a Manchete veio através do Justino Martins, a quem eu conheci em Paris, ainda nos anos 50, quando fazia a pós-graduação em um hospital em Nanterre. Eu tinha uma motocicletinha - era muito jovem, solteiro - e à noite saía com o Justino na garupa. Ele era mais velho que eu, mas nos tornamos muito próximos, e a amizade continuou quando voltei ao Brasil. A essa altura, eu tinha começado a criar dentro da Medicina um novo conceito para a cirurgia estética, e a imprensa naturalmente me procurava. No caso da Manchete, porém, mais do que a notícia, o que me ligava era o relacionamento pessoal, a intimidade, que se estendeu ao Adolpho, à Lucy (Bloch) e a tantas outras pessoas que lá encontrei. Também havia o fato da minha relação antiga com o Juscelino, amizade herdada da minha mãe, que era de Diamantina. De modo que mantivemos assim, minha mulher e eu, uma convivência de amizade, em que nos víamos muito, jantávamos nas casas uns dos outros. Tudo isso acontecia fora do âmbito da notícia, como eram também as viagens que fazíamos ao Planalto, na época da construção de Brasília, e a gente se hospedava no Catetinho. O Adolpho fazia parte desse grupo, todos nós tomados pelo mesmo entusiasmo. Hoje, todo mundo reconhece isso, mas naquele tempo não, o JK era alvo de muitas críticas. E essa adversidade fez crescer o carinho e a amizade do Adolpho pelo Juscelino, um sentimento por sinal que não tinha nada de piegas. A base era a admiração que ele era capaz de sentir pelas pessoas nas quais via algum valor. Ele tinha prazer nisso, gostava de dividir com os outros, o que é muito raro. Esse entusiasmo pelo que outras pessoas são capazes de fazer é uma característica de uma generosidade de espírito enorme. Lembro de que me chamava a atenção naqueles almoços promovidos pela Manchete, muitas vezes em torno de personalidades mundiais que visitavam o Brasil, o ambiente familiar, formado por pessoas de idades e naturezas tão diferentes, e que até politicamente eram muito diversas, mas que o Adolpho com a sua personalidade irmanava. Era certamente um patriarca, uma figura forte, que passava para todos nós essa força de pai, de mãe, de amigo à toda prova. Podia não ter uma grande cultura, no sentido livresco da palavra, mas tinha uma vasta cultura humana, irradiava humanidade.Hoje, vivemos num mundo fracionado, pouco perceptível às emoções, cada um dentro de seu próprio casulo, cheio de barreiras, de grades. Mas não será sempre assim. O homem tem que atuar no seu meio, na convivência com os outros. Há pessoas que são dotadas de uma espécie de clarividência, uma força que ao mesmo tempo é simplicidade. Eu acho que o Adolpho foi um desses homens privilegiados. E tinha que ter mesmo muito carisma... para levantar todos aqueles papagaios!A Manchete em seu tempo não ficou nada a dever às melhores revistas internacionais. Ela representou e ainda representa um momento importante da história de nosso país, momento de muita qualidade, que ela acompanhou e estimulou.”
Manchete, uma História Para Não se Esquecer
Durante o período em que trabalhei na Bloch Editores, passei por várias revistas ocupando diferentes cargos e funções. A editora disponibilizava os recursos existentes para a elaboração dos trabalhos mas esses recursos ainda eram precários e demandavam, às vezes, um grande esforço dos profissionais. Os computadores chegaram às redações, em meados da década de 80, enormes, caros e restritos à determinados setores. Fotos digitalizadas, e-mails, não existiam. O sistema de telefonia era precário, o telex dependia de um operador, as fotos internacionais compradas das agências de notícias e as nacionais trazidas em mãos, algumas vezes até, de passageiros em vôos comerciais. Colocar uma revista semanal nas bancas, naquela época, devidamente atualizada, não era fácil. Tínhamos que achar solução para os problemas em tempo recorde. Uma das muitas surpresas que tive ao chegar à Bloch foi deparar-me com personas non gratas do regime militar. Entre esses alguns que haviam sido presos apenas por suspeita ou simplesmente por parentesco ou amizade a pessoas cujas ideologias eram contrárias ao regime. Adolpho Bloch não fechava suas portas a ninguém. Até porque, em que pese sua idiossincrasia por qualquer ideologia de esquerda, era sagaz suficiente para saber que ali estavam boas “cabeças pensantes” trabalhando a bom preço. A convivência era pacífica, desde que mantivéssemos nossas convicções longe das páginas das revistas. Dentro da agitação das redações, enfatizada pelo barulho das máquinas de escrever, tudo podia acontecer. O corre-corre das equipes, saindo ou chegando com as matérias, era tão usual quanto a presença de personalidades cruzando nosso caminho no oitavo andar, onde funcionavam quase todas as redações.Chegar a uma empresa que dominava o mercado editorial como a Bloch, e trabalhar ao lado de profissionais tarimbados mostrando eficiência, era um desafio. Minha vivência no jornalismo gráfico era nula já que havia me formado, na Faculdade Hélio Alonso, na área de áudio-visual. Estava vindo de um estágio na TV-Tupi, onde fora repórter de vídeo e repórter de campo, sendo a primeira mulher de uma emissora do Rio a pisar os gramados do Maracanã. Aceitei o convite para trabalhar na revista Amiga, então dirigida por Moysés Weltman. Este, conhecido como o autor do seriado que mais tempo ficara no ar na Rádio Nacional, sabendo da situação em que se encontrava a TV-Tupi, recebeu-me de braços abertos. O seriado, Jerônimo, o Herói do Sertão, que nascera de uma história em quadrinhos, criada por Edmundo Rodrigues, permaneceu em cartaz 16 anos. Posteriormente chegou à televisão atingindo assim o recorde de ter atravessado três décadas em cartaz: 60 e 70, na TV Tupi e em 80, no TVS/SBT. A revista Amiga e a revista Sétimo Céu mantinham equipes diárias, nos estúdios da TV-Globo, cobrindo novelas. Os repórteres ficavam rondando as continuístas para que estas adiantassem os capítulos para que as chamadas de capa saíssem atualizadas.Sem sombras de dúvidas a Bloch era a mais bem estruturada editora carioca, integrada por um grande parque gráfico, um bem equipado estúdio fotográfico, na rua Frei Caneca junto ao presídio e um luxuoso prédio idealizado por Oscar Niemeyer, na Praia do Russell, 748. A panorâmica paisagem do Parque do Flamengo com o visual do Pão de Açúcar destacava ainda mais o requinte do interior do edifício. Paisagem que impressionava principalmente aos visitantes estrangeiros que percorriam o prédio. Contam que todo esse visual servia de argumento para Adolpho Bloch negar pedidos de aumento de salário. “Com essa vista tão bonita para que você quer aumento?” É claro que ele estava brincando mas é claro também que resistia a qualquer reivindicação desse gênero.Inicialmente, como freelancer da revista Amiga, uma das primeiras reportagens para a qual fui incumbida foi a da chegada do Concorde ao Brasil trazendo a bordo o ator Alain Delon. Na pista, a nossa equipe, integrada por Antonio Rudge e Gervásio Baptista, pronta para registrar as primeiras impressões do galã francês. Haviam nos prometido uma entrevista coletiva no aeroporto. O que não aconteceu, pois o astro passou correndo, entrando em uma sala Vip, deixando de fora os profissionais de imprensa que lá se encontravam. Em vão tentamos parlamentar com a assessoria cobrando a promessa feita de uma coletiva já que o “gancho” da matéria seria a primeira vez não só do Concorde mas também de Delon no Brasil. Como a porta continuava fechada, desistimos e resolvemos ir para o Copacabana Palace, onde sabíamos que o ator iria hospedar-se. Ao chegar ao hotel, deparamo-nos com dezenas de repórteres, fotógrafos e cinegrafistas esperando que alguém da assessoria aparecesse para dizer quando a prometida coletiva iria acontecer. Caía uma chuva fina o que obrigava a todos permanecerem ali fechados. Quanto tempo, ninguém sabia. Olhando em volta, percebi que uma das portas do salão, que dava acesso ao terraço, estava entreaberta. Tive a intuição de que Delon estaria ali. Caminhando calmamente atravessei a porta e vi-me frente a frente com ele, sozinho, encostado à parede procurando se abrigar da chuva. Sem estranhar a minha presença ali, nem esboçar reação antagônica, começou a divagar sobre a beleza da paisagem. O ídolo da minha adolescência estava ali disposto a conversar. Na minha condição de fã, foi o que sempre idealizei. Naquele momento, no entanto, um pouco tarde. Tive que esquecer a tietagem e fazer o meu trabalho. Lembrei que, sem fotos, o texto estaria prejudicado. Corri até a porta chamando Gervásio e Rudge. Não foram só os dois que atenderam ao chamado, mas todos os que se encontravam ali... Como num estouro de boiada, vieram em minha direção e, se eu não tivesse saído do caminho, de certo, seria pisoteada. Ficamos com belas fotos mas perdi a entrevista exclusiva. Depois de alguns anos no metier - principalmente como editora e chefe de reportagem – implantou-se em mim uma verdadeira resistência a entrevistas coletivas. É a arte do engodo usada para se dizer apenas o que interessa ser divulgado. Um release mal disfarçado. Nos idos anos de chumbo, uma prática comum e manipuladora.Por ser ainda desconhecida dos artistas comecei a ser destacada para cobrir matérias onde a presença da imprensa era vetada. Nem sempre dava certo. Escalada para cobrir o casamento do ator Osmar Prado – na época fazendo muito sucesso na novela Anjo Mau - passei por situação insólita e bastante constrangedora. A cerimônia seria realizada na casa dos pais da noiva sem a presença da imprensa. A grande missão: juntar-me aos convidados fingindo ser um deles. Descobri um pouco tarde que não fora só a imprensa a ser “desconvidada”, amigos e parentes também. Fiquei plantada no meio da sala, sob os olhares inquisidores de quatro pessoas - a noiva, os pais da noiva e a irmã – que não entendiam o porquê da minha presença ali. Eu idem, já que nunca havia visto um casamento tão informal e tão pouco concorrido. O juiz de paz, que chegara junto comigo, não ajudava muito. Segurando um livro enorme, olhava-me curioso, esperando que alguém nos apresentasse pensando, talvez, que eu fizesse parte da família. Tinha razão, pois o meu traje – adequado para uma cerimônia de gala - denotava ser eu uma “figura importante” naquele contexto. O que eu decididamente não era. Fui convidada a me retirar sem poder “misturar-me” com quem quer que fosse. Apesar de ter sido barrada, a matéria estava salva. Havia visto o suficiente. Algumas passagens curiosas nos eram narradas durante as entrevistas mas deixadas de fora por não estarem no contexto das mesmas. Como o vexame vivido pela cantora Maria Creuza, durante um show em Paris, ao lado do grande Vinícius de Moraes. Em pleno palco cantando a música Mais um Adeus, da autoria de Vinícius, passou por uma situação insólita. Na hora em que deveria cantar “Olha, benzinho, cuidado com o seu resfriado, não pegue sereno, não tome gelado, o gim é um veneno, cuidado benzinho, não beba demais...” foi acometida por um lapso de memória e esqueceu toda a letra. Para não enfatizar a gafe começou a cantar todas as palavras terminadas em ado que lhe vinha à cabeça. A platéia, composta em sua maioria por franceses, não iria notar, pensava. Esquecera que o autor da letra, Vinícius, estava no palco e já olhava em sua direção bastante apreensivo. No intervalo, foi interceptada por ele: “Creuzinha, o que foi aquilo?” Ela: “Esqueci, Vinícius, esquecí”. O Poetinha, que não escondia de ninguém o seu gosto por um bom copo de uísque, suspirou aliviado: “Ah, bom, logo vi que eu não podia ter escrito semelhante merda”. Algumas vezes também, os entrevistados resolviam testar os conhecimentos dos repórteres principalmente ao perceberem serem esses iniciantes. O cantor espanhol Miguel Bosé, filho do famoso toureiro Dominguin e da atriz italiana Lucia Bosé, que viera ao Brasil para um show no Canecão, estava mais preocupado em saber como o povo brasileiro encarava o regime militar do que em falar sobre o seu show. As perguntas que fazia demonstravam que ele sabia mais da realidade brasileira do que os nossos censores gostariam que soubesse. O clima de desconfiança era tamanho que comecei a recear fosse ele um agente internacional. Lembrei que, na minha primeira entrevista com Raul Seixas, tendo eu tido a preocupação de fazer uma pesquisa minuciosa sobre a sua vida, este estranhou o fato de eu estar de posse de tantas informações. “Você é da CIA? Como pode saber tanto sobre a minha vida?” Levei na brincadeira pois sabia que Raul, tendo já sido preso por causa do gibi Fundação Krig-há, no qual lançara a Sociedade Alternativa de parceria com Paulo Coelho, desconfiava de tudo e de todos. Depois, relaxou e posteriormente fiz mais duas entrevistas com ele. Importante ressaltar o grande poder dos nossos compositores, cantores e artistas, principalmente de teatro, que durante os “anos de chumbo” conseguiram driblar a censura e mostrar ao mundo toda truculência do regime. O que não se falava aqui, era comentado em vários países onde a democracia predominava. Conheci em Paris, 1977, a radialista Regina Mellac, que mantinha um programa na rádio francesa, voltado exclusivamente para a censura no Brasil. A música era censurada aqui, ela tocava, na integra, lá. Tocava e criticava, destacando os absurdos dos cortes sofridos por Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Augusto Boal. Esses, tinham cadeira cativa no programa. Quando soube que eu trabalhava na Bloch, cujas revistas semanais circulavam também em Paris, Nova Iorque, Roma e Portugal, a radialista fez questão de ir ao meu encontro para saber notícias “frescas” do Brasil.A credibilidade das revistas da Bloch era muito questionada dentro do Brasil. Internacionalmente, a coisa mudava de figura. Nenhuma personalidade, fosse ela do cinema, do teatro, do balé, da ópera, da música, passava pelo Rio sem visitar a Bloch. Alguns chegaram a freqüentar nossas redações, como Liza Minelli. A fotógrafa Annie Leibovitz, sabedora de que eu era da Manchete, ao me ver na suíte do Copacabana Palace, fazendo uma matéria com Jerry Hall – na época esposa de Mick Jagger – ofereceu-se para fotografar a modelo para a nossa revista, graciosamente. Annie, que trabalhava na Vanity Fair, costumava acompanhar roqueiros famosos em excursões, fotografando-os para a revista Rolling Stones. Era, e ainda é, uma das fótógrafas mais prestigiadas e bem pagas do mundo.Minha atuação na revista Amiga passou a ter mais ênfase depois de uma reportagem, feita na TV-Globo, em 1975, com o diretor Walter Avancini. Nela, Avancini, que estava dirigindo a novela Gabriela, fazia críticas contundentes à televisão brasileira, “descaracterizada pela importação de modelos distanciados de nossa realidade”. A reportagem foi vetada pelo editor Janir de Hollanda e só foi publicada por instância de Avancini que, sabedor do veto através do jornalista Pedro Porfírio, telefonou a Moysés Weltman pedindo a publicação da mesma. Foi atendido e o assunto rendeu uma circular afixada nos corredores da emissora “solicitando” aos diretores que se abstivessem de comentários desse tipo. A crítica feita à televisão brasileira tinha endereço certo, daí a reação. A circular não intimidou Avancini que foi à redação da Amiga reiterar tudo o que havia dito e agradecer a Moysés Weltman pela fidelidade com a revista reproduzira suas palavras. Depois deste episódio, fui admitida como redatora da revista Sétimo Céu, única revista brasileira a produzir as suas próprias fotonovelas. Idéia implantada pelo Prof. Arnaldo Niskier, atual membro da Academia Brasileira de Letras, que na época dirigia a revista. As fotonovelas até então publicadas no Brasil, eram italianas e de alto custo. Logo na primeira da série, Adelaide Simon Não quis Matar, da autoria de Mário Lago, a vendagem da revista – que era de 6.000 mil exemplares pulou para 25.000 exemplares. *Dado tirado de uma pesquisa sobre a história da fotonovela no Brasil.A Central de Produção das fotonovelas contava com fotógrafos especializados. Eram usados em média 130 a 140 quadros o que obrigava ao fotógrafo dar três cliques para cada quadro. Ao final do dia mais de 300 cliques tinham sido dados. Não era fácil. Dos autores de fotonovelas o nome de Janete Clair tinha um duplo apelo: pelos argumentos e por estar sempre em evidência assinando novelas de bastante audiência na TV-Globo. Depois de um ano e meio passei a dirigir a revista Carinho. Voltaria a Sétimo Céu, tempos depois, como diretora.Passei a trabalhar simultaneamente para duas revistas em diferentes funções: como redatora da Sétimo Céu e como repórter/redatora/produtora da Carinho. Esta última foi criada para aproveitamento de sobra de papel por Moisés Weltman e Janir de Hollanda. Logo depois, no entanto, Weltman foi chamado para implantar a TVS/SBT, no Rio de Janeiro. Em seu lugar ficou Paulo Alberto Monteiro de Barros, que adotara o pseudônimo de Artur da Távola e era um dos mais prestigiados críticos de televisão com sua coluna diária em O Globo. Fui promovida à diretora da revista Carinho, por obra e graça de um dos rompantes de Adolpho Bloch. Naquela semana, algumas revistas não tinham tido um bom desempenho na vendagem. Apenas Carinho correspondera às expectativas. Sem que eu soubesse da tal reunião, - teor me foi passado posteriormente por Odejayme Hollanda, então editor da revista Amiga - Adolpho exigiu que eu assumisse a revista. O que eu já o fazia, provisoriamente, no lugar de Artur da Távola licenciado para tratar de assuntos políticos. Até então Adolpho Bloch não me conhecia mas o argumento que usou para me promover foi hilariante: Carinho era a sua revista predileta. Não dava para conceber um senhor de setenta e poucos anos, lendo com interesse uma revista dirigida à adolescentes. Como eu não estava presente, livrei-me do vexame de ver a cara que os outros diretores devem ter feito. Não tanto pela decisão de me colocar como diretora da revista, mas pelo argumento usado pelo dono da empresa. Só fui apresentada a ele, por Jaquito, 15 dias depois, em pleno corredor. Abraçou-me rindo com palavras de incentivo. Algumas impublicáveis.Uma das idéias que mais repercutiu na Carinho junto ao público jovem, foi a da capa com fotos das leitoras da revista. Para isso elas teriam que preencher um cupom e mandar duas fotos com boa definição, para a seção Seja Capa de Carinho. Muitas garotas foram reveladas para a carreira de modelo e atriz. A mais famosa delas, Xuxa. Maria da Graça Meneghel chegou a nossa redação, logo após eu ter visto uma foto sua tirada em um clube do subúrbio. A foto me foi trazida por Alexandre Cavalcanti, fotógrafo das garotas de Carinho, com a explicação de que um rapaz chamado Walter, funcionário do nosso laboratório fotográfico, havia seguido Xuxa até a sua casa, em Bento Ribeiro, e falado sobre o nosso concurso. Xuxa tinha 15 anos. Mandei chamá-la a despeito da opinião pouco favorável das produtoras. Achavam-na com feições infantil e muito bochechuda. Já nessa época, as garotas cultivavam cabelos compridos e cheios. Os cabelos de Xuxa eram curtos e ralos. Chegou à redação com uma calça verde-pistache, cor não muito usual na época, e uma T-shirt listrada. Ao seu lado, o irmão Vlado vigilante e desconfiado. Tinham razão, ele e a família. Não é comum uma pessoa ser seguida por alguém, em plena rua, bem intencionado fazendo um convite para uma carreira de sucesso. Sucesso esse que viria a ser alcançado, transformando a vida da Xuxa para sempre. No dia da produção, pedi que a estilista prendesse os cabelos dela para assim realçar as suas feições nórdicas. Quando as fotos chegaram percebi que a minha intuição não falhara. Xuxa havia se transformado completamente. Parecia uma veterana. Carinho tinha um público fiel de leitores jovens. Já nessa época havia interesse das agências de publicidade em torno das garotas reveladas em Carinho e pela própria revista. Dali colhiam referências que eram passadas aos anunciantes interessados em ampliar mercados consumidores. Fui, certa vez, chamada a São Paulo, pela equipe de criação da Lintas, para explicar que parâmetro eu usara para colocar na capa da revista uma garota negra, até então desconhecida. Apenas famosos como Mohamed Ali e Pelé costumavam ter espaço nas capas das revistas... Começava também em Carinho abertura para modelos adolescentes. Caso da gaúcha de Don Pedrito, Gloria, que depois de ter aparecido na capa da revista, foi contratada pela indústria americana de cosméticos Charlie para a campanha de lançamento de sua linha de Eau de Toillette. Fez a campanha, ganhou dinheiro mas depois voltou à sua terra para casar me agradecendo, através de uma delicada carta, a oportunidade que tivera de uma carreira vitoriosa mas que, por amor, estava abdicando. Adolpho Bloch, um gráfico que saíra da Rússia durante a revolução comunista apenas com a roupa do corpo e um pilão, sempre citado em suas memórias, construiu uma empresa que, em termos de estrutura, poucas editoras, atualmente, têm. Costumava ficar a maior parte do tempo na sala de Jaquito - Pedro Jack Kapeller, seu sobrinho - ocupada também por Murillo Mello Filho de onde visualizava as redações da Manchete e da Fatos & Fotos. Tinha uma sala particular no terceiro andar a qual ocupava apenas para despachar as pendências bancárias. No semblante carregado, o sinal de suas preocupações que iam de contas a pagar à vendagem das revistas passando pelos problemas ocasionais da sua cadela Manchetinha. Tinha uma verdadeira adoração por cachorros. Era uma das raras pessoas que impunha ordens se lamuriando. Encontrá-lo sem queixas ou questionamentos era difícil, quase impossível. “É um merda,” dizia sempre ao criticar alguém. Implicava com paletós e guarda-chuvas no encosto das cadeiras. Opinar sobre fotos era uma tônica que muitas vezes o levava a atitudes drásticas. Mandava botar, tirar, cortar e muitas vezes, dizem, engolia cromos dos quais não gostava, para evitar que fossem publicados. Suas excentricidades eram notórias. Quem com ele conviveu tem um repertório variado de “causos”para contar. Era impressionante o seu felling para aparecer nos lugares certos na hora errada. Como a da vez em que flagrou um desconhecido no banheiro do oitavo andar. A televisão havia sido inaugurada no dia 5 de junho de 1983 e custara 48 milhões de dólares em equipamentos de última geração. Tudo o que Adolpho mais temia, era um ato de sabotagem. Terroristas povoavam os seus mais tenebrosos pesadelos. Isso explica a reação que teve ao encontrar aquele homem, portando uma mochila, trocando de roupa em seu banheiro. O desconhecido, flagrado na mais inocente “mudança de visual” não quis se identificar já que o havia feito na recepção. Tinha vindo de São Paulo, por indicação de Celso Arnaldo, chefe de reportagem dessa sucursal, para tentar uma entrevista na Fatos & Fotos. Queria denunciar as “arbitrariedades” sofridas em um presídio de São Paulo e fora encaminhado para falar com a nossa chefe de reportagem, Marilda. Mas isso ele não falou ao Adolpho. A este, ele recusou qualquer explicação. Uma cena insólita desenrolou-se a seguir com Adolpho adentrando a redação da Fatos & Fotos, dirigida por Carlos Heitor Cony, gritando: “Quem é Marilda?” Quando a moça se apresentou assustada ouviu a ordem- “Está despedida”! Ninguém ali entendia o que estava ocorrendo. Enquanto Adolpho esbravejava, o homem, que até então ninguém conhecia, apareceu na redação segurando um quadro acima da cabeça, dizendo pausadamente: “Olha aqui pessoal, eu sou o Formiga, ex-jogador do Vasco, preso injustamente em São Paulo. Vim aqui procurar d. Marilda para denunciar os maus-tratos sofridos na cadeia.” Ele girava lentamente para que todos lessem o que estava escrito no quadro, -parecia um diploma - enquanto Adolpho solicitava a presença dos seguranças para que retirassem o Formiga do seu caminho. Este continuava o seu discurso impassível: “Eu estava no banheiro, trocando de roupa quando este homem grosseiro entrou querendo saber quem eu era”. Ao que o Cony apressou-se em explicar-“Esse homem é o dono da empresa”. Ignorando a confusão que estava causando, o Formiga indagou: “E ele não tem educação não?” Ninguém ousava interferir pois com Adolpho irado só mesmo Cony poderia fazer alguma coisa. Nesse dia não conseguiu, assim como também não conseguiu evitar a demissão da Marilda. Algumas reportagens foram marcantes por terem me feito mudar conceitos, um tanto pessimistas, da grandeza humana, reacendendo em mim a esperança de um mundo melhor. Posso dizer com segurança que a que fiz com a Irmã Dulce da Bahia, 1984, juntamente com o fotógrafo Antônio Ribeiro, para a revista Manchete, foi uma das mais emocionantes. Para começar,consentiu em fazer a reportagem desde que eu me dispusesse a segui-la. Não podia parar. Era tudo o que eu queria. A minha intenção era justamente de fazer uma matéria testemunhal. Não sendo eu praticante de nenhuma religião poderia me isentar de qualquer influência em nome de Deus. A cada minuto, durante os cinco dias em que passei seguindo-a, uma revelação. Todas determinadas pela maneira sui-generis que a Irmã arranjava para suprir as necessidades da sua obra. Afastada da sua ordem congregacional, Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, dizia que o seu patrão era Deus. Frágil, convivendo com uma fibrose pulmonar, trabalhava full-time sem se deter diante de nenhum empecilho. Do poder público, queria distância já que este nunca supriria suas reais necessidades. Segundo os seus assessores, o que ela mais temia, embora não verbalizasse, era ser usada nas campanhas eleitorais deixando-a impossibilitada de recorrer aos que efetivamente a ajudavam. Os empresários a quem recorria, atendiam-na, com presteza, sem necessidade de burocracias nem intermediários superfaturando. Ao diretor de uma multinacional foi feito o apelo: “Meu filho, você gostaria de abrir uma poupança no Céu ?” É lógico que do outro lado veio a resposta positiva pois ninguém se atreveria a negar o pedido de uma pessoa cujo patrão era o próprio Deus. Na parede do ambulatório, no Bonfim, duas fotos, em grandes molduras: uma do então Papa João Paulo II e outra do cantor Roberto Carlos. Para este último, palavras de muita admiração e amizade. “Ele me ajuda sempre que preciso”. Quando perguntei o que seria de todo aquele trabalho no dia em que ela faltasse a resposta veio firme: “Deus me meteu nessa encrenca, vai saber o que fazer. “Pessoal, o lanche está chegando!” A exclamação vinda da nossa secretária, era motivada pela chegada do reforço para os nossos estômagos vazios saturados dos inúmeros cafezinhos ingeridos no transcorrer da tarde. O lanche, servido às 20 horas, composto de sanduíches e refrigerantes, era uma benesse conseguida pelo nosso editor, Carlos Heitor Cony, para os plantões de sexta-feira, quando ficávamos até meia-noite empenhados no fechamento da revista. Os sanduíches eram disputados literalmente no tapa. Deliciosos e variados tinha um carro-chefe: o pão com ovo. Uma delícia que nem o mais famoso chef du cuisine saberia executar. A clara bem passada, porém não torrada, e a gema devidamente mole e quentinha. Havia ainda sanduíches de queijo, presunto e de carne. A variedade visava atender às diversas preferências mas não evitava alguns entreveros. Um deles a confusão causada por um colega redator freelancer, que gostando demasiado de carne retirava três, às vezes quatro bifes, colocando-os em apenas duas bandas de pão. Quando os retardatários chegavam só encontravam os pães sem os devidos recheios. Estava formada a confusão e como ele não se abalava com as reclamações a secretária tinha uma incumbência extra: a de avisar a chegada do lanche, assim que o garçom apontasse no início do corredor. Tinha um apelido e sua chatice era notória. Chegara a empatar com ele mesmo nesse quesito em uma eleição feita por jornalistas em uma mesa de bar. A pergunta visava eleger o jornalista mais chato que eles haviam conhecido. Metade votou no nome do tal colega da redação e a outra votou em um jornalista o qual tinham trabalhado cujo nome eles não lembravam, apenas o apelido. Só depois é que descobriram tratar-se da mesma pessoa. A gratuidade do lanche nunca havia sido dada a nenhuma outra redação – todas as outras fechavam cedo, no início ou no meio da semana – motivo pelo qual a nossa foi batizada de “redação do pão com ovo”.Estávamos em meados da década de 80 e a revista era a Fatos. Resquícios da forte censura sofrida por todos órgãos de imprensa a partir de 64, causavam alguns efeitos. De um lado, empresários fazendo acordos bilaterais para sobreviverem e criando uma censura interna. Do outro, profissionais da imprensa fazendo verdadeiros malabarismos para driblar as duas censuras. À frente da Fatos, Carlos Heitor Cony, diretor, José Esmeraldo Gonçalves, editor-executivo e João Américo Barros, diretor de arte. Na redação Lenira Alcure, Marcos Santarrita, Sergio Ryff, Flávio Aquino, Aldo Wandersman, Regina Zappa. A convite do Cony passei a exercer a chefia de reportagem, dois meses após o lançamento da revista, assinando também a coluna Em Cima dos Fatos.Tínhamos grandes planos para o lançamento da revista Fatos. O principal deles: colocar na capa a foto do primeiro presidente civil do Brasil, após 21 anos de ditadura. Tancredo Neves seria um marco para a história da Nova República e para a nossa história. Ninguém esperava que esse anseio fosse frustrado justamente no dia da posse. Ficamos parados em frente à televisão, ouvindo simultaneamente o rádio, sem saber o que pensar nem o que fazer. Começava então a lenta agonia que durou 38 dias. Até ser transferido para o Instituto do Coração, em São Paulo no dia 26 de março, onde foi submetido a cinco cirurgias – ao todo foram sete – nós acreditávamos na recuperação de Tancredo. Para o Incor, foi mandado Luis Carlos Sarmento que sabia tudo sobre a trajetória política daquele que seria o nosso futuro presidente. Confiando que Gervásio Baptista, veterano fotógrafo da revista Manchete – na ocasião fotógrafo oficial da Presidência da República – iria lhe dar todas as informações em primeira mão, ficou frustrado ao saber que isto não seria possível, nem ético. Todos as informações seriam dadas pela equipe médica do hospital ou pelo porta-voz da Presidência, Antonio Britto. Sarmento não se conformou. Achava que Gervásio estava escondendo algo muito importante. Resolveu partir para iniciativa própria, passando a vigiar as luzes da janela do quarto onde Tancredo estava internado. De meia em meia hora telefonava para o quarto de Gervásio, dizendo que estava “percebendo” um movimento estranho no quarto de Tancredo. Gervásio conseguiu ter calma nas três primeiras vezes. Depois, não mais. Desceu ao saguão, onde estavam os demais repórteres e pegando o Sarmento pelo colarinho falou curto e grosso: “Se me chamar mais uma vez, vai levar porrada”. Ninguém ali entendeu a cena que, no entanto, serviu para reacender os ânimos daqueles que já cansados pela vigília, cochilavam. Ao ser anunciado o falecimento de Tancredo, do dia 21 de abril, ficamos sabendo que seria enterrado em São João Del Rey, sua terra natal. Sarmento foi destacado para lá. Nova frustração: saber que o ato final seria restrito à família. Não se deu por vencido. Conseguiu descobrir um ex-colega de colégio, parente de Tancredo Neves, na frente, junto aos familiares. Sem pedir licença, postou-se ao lado deste que estranhou a presença do Sarmento ali. Mas conhecendo o jornalista de longa data sabia que ele não se retiraria dali facilmente. Preferiu fazer que não estava vendo. Até porque Sarmento estava como que hipnotizado, muito quieto, olhando para algo que lhe pareceu muito estranho: a morosidade do coveiro lacrando a sepultura. De tanto olhar, perdeu o equilíbrio, tombou para frente, quase caindo na sepultura. O que foi pior: quase levando o colega, importante diretor de uma multinacional, com ele.A Fatos deu certo até a hora em que a nossa liberdade foi tolhida. Sem esperar o “apagar das luzes”, Cony consultou-nos sobre a possibilidade de fechar a revista. Concordamos em fazê-lo antes que a empresa o fizesse. Logo após o seu fechamento, as duas salas anteriormente ocupadas pela redação, tornaram-se “atrações turísticas” incluídas no roteiro dos eventuais visitantes. “Aqui funcionava a redação da Fatos”, dizia um dos diretores. O que estava implícito na frase era: “Aqui funcionava uma revista que nós odiávamos e não descansamos até fechá -la”.Tudo tem um começoCheguei a Bloch em 1975, depois de um estágio na TV Tupi, fazendo reportagens para o noticiário apresentado por Gontijo Teodoro, ex-Repórter Esso. A Tupi agonizava, acumulando problemas e dívidas com o governo. Equipamentos desgastados, sem perspectiva de renovação, exigiam dos profissionais um verdadeiro “esforço de reportagem” para produzir matérias com uma quantidade mínima de filme. Os recursos avançados passavam longe da TV Tupi. Ilhas de edição, nem pensar. Trabalhávamos usando filmes de 16mm, o que determinava a necessidade de revelação. As matérias eram passadas verbalmente para o redator. Este – que ficava a postos esperando o retorno da equipe – escrevia o texto a ser lido pelo apresentador baseado em nossas informações. Depois, tínhamos que torcer para que as imagens coincidissem com o áudio. A edição era feita com apenas 15 minutos de antecedência. Esse também o tempo que Rio dispunha para o jornal local já que o nacional era gerado em São Paulo. É claro que esta tecnologia “antidiluviana” não atendia ao imediatismo da televisão. O assunto de maior relevância era o futebol com a Seleção de 70 ainda curtindo os “louros” do tricampeonato no México. Sob o comando de Zagallo, a equipe se preparava para disputar na Alemanha o primeiro mundial pós-México. Estávamos na transição do Governo Médici/Geisel em que a sociedade civil se organizava na defesa dos direitos humanos, principalmente dos presos políticos. A censura era tão “cuidadosa”, para não dizer burra, que censurava autores clássicos e impedia-nos de divulgar até epidemias.Sempre que uma era constatada, e autoridades competentes acionadas para um pronunciamento, éramos recebidos por assessores que nos recomendavam “não tocar no assunto”. Mas quando as luzes das câmeras se acendiam a pergunta era uma só – “E a epidemia?” As expectativas do país estavam concentradas em torno da nossa seleção. Todos esperavam que esta repetisse o feito de 1970. O que não aconteceu. O Brasil foi eliminado pelo famoso “carrossel holandês” de Cruyff e o título terminou ficando com a Alemanha do Beckenbauer. A situação da Tv Tupi estava precária. Os funcionários trabalhavam em troca de vales de supermercado. Muitos já haviam debandado para outras emissoras. Na contramão desse fluxo migratório, eu chegava para pedir um estágio no telejornalismo. O diretor, Dermival Costalima, um dos pioneiros da emissora, me admitiu sem sequer esperar as apresentações. Estendeu-me uma pauta dizendo: “Faça essa matéria, a equipe já está lá embaixo esperando”. E nada mais me foi explicado.[Daisy Prétola]
Carinho S/A
Quem?...
Perguntei ao chefe de reportagem que excitadíssimo, me informava que havia descoberto que fulana de tal estava no Rio. Que eu a entrevistasse imediatamente, levantasse tudo sobre a sua visita ao país. Puxei desesperadamente pela memória, seria alguma cientista, cantora, poetisa, escritora, quem sabe, uma exilada política?... Mas eu simplesmente não tinha idéia. Era minha primeira matéria para a revista Fatos & Fotos. Queria dar um show de eficiência. Mas, quem, diabos, era a fulana de tal?! O chefe de reportagem, certo que já havia me despachado devidamente, percebeu que eu continuava, ali, plantada. Abrandou o tom, lembrando-se, que eu era de São Paulo, “Fala com o Justino, que ele deve saber onde ela está”...Piorou! Justino quem?!Desalentada, passei os olhos pela redação em busca de um rosto amigável, a quem pedir ajuda. O exame da sala me provocou novamente o choque que havia sentido, quando a porta do elevador se abriu no oitavo andar, naquela manhã de 26 de dezembro de 1977, meu primeiro dia de trabalho em Bloch Editores. As mesas amplas de embuia maciça, com design ergométrico - um dos lados rebaixados, onde se assentavam as máquinas de escrever -, as cadeiras, estofadas, forradas de couro, sobre o piso polido de tábua corrida, as portas e divisórias de vidro temperado, apoiadas em colunas de mármore branco. Tudo imaculadamente limpo.A assepsia e a ordem em nada lembravam o que eu conhecia como redação. Mesas encardidas, de metal e fórmica, carpetes puídos, cinzeiros eternamente sujos, o ar impregnado de fumo, tudo embalado por gotejantes aparelhos de ar refrigerado, resfolegando na tentativa inútil de refrescar o ambiente. Falava-se, discutia-se, o tom aumentando na medida em que a hora do fechamento se aproximava, as máquinas matraqueando alucinadamente, “Pô, demorou!!! Trouxe a matéria? Rápido, três laudas. Tem foto boa? Cadê o fotógrafo? Chama o fotógrafo!!!!” E o editor corria para a mesa do diagramador, aliviado, para ajustar a página, olhando o relógio, pressionando o repórter. Nesse ritmo, ninguém sentia falta de estética e conforto. Aliás, eu achava mesmo que não podia ser diferente. A tensão, a busca, a corrida contra o tempo, em duelo permanente com a acuidade da informação, tudo desaguando no dia seguinte, numa nova edição de jornal, ou em apenas horas depois, em mais um telejornal no ar. Requinte e organização, não cabiam.Redações, para mim, eram o território de batalha diária onde testávamos nossos limites, suando sob a pressão, buscando inspiração para revelar nas entrelinhas o que a censura – interna ou externa – não deixava publicar. Eram os anos da repressão e éramos uma geração idealista que acreditava que poderia fazer diferença, investigando e revelando os desmandos da ditadura. Todos muito jovens e muito sérios. A oportunidade de uma pauta polêmica nos levava a delirantes exercícios de estilo, buscando fazer o leitor compreender o que mais havíamos apurado, mas não poderia ser publicado. Estas tentativas normalmente resultavam em parágrafos completamente sem sentido, sumariamente eliminados pelo editor. A frustração e a injustiça acabavam desopiladas no boteco do Estadão, onde se reuniam, depois do fechamento, muitos dos expoentes do jornalismo paulistano, que passavam horas bebendo, cercados por embevecidos estagiários e novatos. Ouvíamos, aprendíamos e, no dia seguinte, restaurados, voltávamos aos nossos postos, prontos para a batalha do dia. Aquela redação luxuosa, emoldurada pela vista espetacular da baía de Guanabara, me pareceu, de início, muito, muito suspeita.Desconfiada, examinei novamente meus novos colegas. O editor, Paulo Alberto Monteiro de Barros, o Artur da Távola, eu conhecia como cronista. O chefe de reportagem, o Marco Antonio Gay eu também já conhecia. Durante um ano, havíamos conversado diariamente por telefone, quando ele estava na chefia de reportagem de O Globo, no Rio, e eu estagiava na subchefia de reportagem da TV Globo de São Paulo. Todos os dias, antes do meio dia, trocávamos pautas. O que eles iriam cobrir para o jornal, o que nós iríamos cobrir para a TV. Nunca havíamos nos visto e encontrá-lo na chefia de reportagem de Fatos & Fotos foi uma ótima surpresa. Recebi dele, logo de início, tratamento de colega experiente. Em favor da minha futura reputação no novo emprego, ele seria a última pessoa a quem eu poderia dar conta da minha lamentável ignorância.Mas eu precisava de ajuda. Minha escolha recaiu sobre um redator franzino, de jeito calmo e que havia me acolhido com o mais simpático dos sorrisos quando fomos apresentados. Fui a ele e disse que não tinha muita certeza do que fazia a senhora fulana de tal. Meio surpreso, o José Esmeraldo Gonçalves me explicou que ela era “aquela que havia se casado com um nobre europeu” e também me recomendou procurar o Justino Martins – agora sim, o sobrenome – que era muito amigo dela. Continuei sem saber qual era o mérito da senhora fulana de tal para ganhar uma reportagem, mas quis saber onde encontrar o tal Justino, “Na Manchete, claro”. Eu não tinha noção que Justino Martins era o lendário editor de Manchete – bem, naquele momento, ele não era. Os editores de Manchete mudavam ao sabor da vendagem da revista e principalmente do humor de Adolpho Bloch, o fundador da empresa e nessa roda da fortuna, Justino, como outros, subia e descia. Encontrei-o na redação da revista e perguntei se ele sabia como localizar a tal senhora, “ligue para a casa do pai dela, minha filha”, orientou-me, com seu sotaque gaúcho. Bem, se eu não tinha a mínima idéia de quem era ela, muito menos, de quem era o pai. Aí, o Justino me olhou francamente escandalizado, “ela é a filha do professor fulano de tal, ora”.Agradeci e tratei de sumir, rápido, da vista dele. Próximo passo: pesquisa. Fiz minha requisição e momentos depois, aterrisava na minha mesa uma alentada pasta de recortes, contando a trajetória da jovem carioca, filha de ilustre médico e cientista que havia perpetrado a façanha de se casar com um nobre francês. Seus méritos: ser loura e linda. Era a presença brasileira na corte francesa. Orgulho da nação. Não era possível, devia haver mais alguma coisa. Ela tinha que ter feito mais alguma coisa. Revirei a pasta. Era tudo.A agenda da redação forneceu o telefone do pai da moça. Liguei e fui prontamente atendida pela entrevistada. Simpaticíssima, ela me “revelou” alegremente que passaria o reveillon com amigos na região serrana do Rio, que estava na cidade, com a família, em férias, para descansar, e que pretendia ficar longe da agitação social. Pronto. Só. Mais, ela não tinha a declarar, e muito menos, eu, a perguntar. Desligamos mandando beijinhos uma para outra e eu fiquei, ali, segurando o fone, tentando entender o que estava acontecendo. Estava tudo errado. Primeiro me mandaram entrevistar uma criatura de quem nunca tinha ouvido falar, depois, na pesquisa e na entrevista tinha sido incapaz de descobrir qualquer fato, de mínima relevância que fosse, sobre ela – bom, tinha o tal casamento com o nobre, mas será que isso contava? Perdi o pudor e fui conversar com o Marco Antonio, expliquei que não tinha conseguido extrair nenhuma informação interessante da fulana de tal e que continuava sem saber o motivo pelo qual ela tinha sido entrevistada. Mostrei as informações que tinha apurado e ele calmamente me mandou redigir a matéria, “Mas é só isso?”, insisti, “Só isso”.Voltei para minha mesa e em dez minutos redigi um texto absolutamente inócuo sobre os planos de reveillon da minha entrevistada, com a certeza absoluta de que jamais seria publicado. Na semana seguinte, eu estreava em Fatos & Fotos com uma matéria assinada e sem saber, estreava também, no jornalismo de celebridades, o gênero que hoje movimenta bilhões de dólares na imprensa de todo o mundo. Se os quinze minutos de fama de tantos candidatos a famosos merecem tantas publicações, já é outro assunto. O que importa é que, de alguma maneira, por acaso ou por visão, Bloch Editores adiantou-se em um segmento que hoje é um dos pilares do jornalismo mundial. Já nos idos setenta, revistas como Amiga e Fatos & Fotos Gente dedicavam-se a vasculhar a vida de artistas e socialites para o deleite de seus leitores.A verdade é que em Bloch Editores praticava-se basicamente um jornalismo de entretenimento e variedades, ilustrado por alguns dos melhores fotógrafos do país. Este é o legado da editora e sua contribuição ao jornalismo brasileiro do século XX, numa área onde reinou absoluta durante mais de cinqüenta anos.Não era só no luxo e no apuro, que as redações de Bloch Editores se diferenciavam. Tudo, lá, era diferente. A começar pelo horário de trabalho imposto aos jornalistas – das 9h às 18h, quarenta horas semanais, contrariando a lei que regulamenta a profissão, e determina trinta horas. Nunca vim a saber como a empresa conseguia burlar a lei, a despeito das sucessivas e infrutíferas denúncias ao sindicato da classe.Voltando àquele primeiro dia. Ao entregar ao Marco Antonio minha matéria, ainda no meio da tarde, perguntei se haveria outra pauta para mim. Diante da negativa, peguei a bolsa e fui embora. No dia seguinte, ele me chamou, meio sem graça, e avisou que eu não fizesse mais aquilo, que havendo ou não trabalho, deveria permanecer na redação até às seis. Tinha que “cumprir o horário”. O Paulinho tinha me visto sair. Paulinho? Foi quando, tomei conhecimento da existência de um bizarro personagem – o primeiro de tantos que proliferavam na editora -, o Paulinho do DP (Departamento Pessoal), um funcionário de memória prodigiosa, cuja principal função, aparentemente, era vigiar as idas e vindas de todos os funcionários. Conhecia cada um de nós pelo nome, sobrenome e sabia exatamente em que redação ou departamento trabalhávamos. De manhã, fazia plantão na portaria, anotando mentalmente os nomes de todos os que chegavam. Mais tarde, fazia a ronda nas redações. Ao notar uma mesa vazia, batia no tampo e perguntava, arrogante: “cadê o dono da mesa?” Mais tarde, o cerco apertou. Já sob a gestão do Getúlio, o funcionário que sucedeu o Paulinho na função de X9, foi instituído o livro de saídas. Cada funcionário que saía, durante o expediente, tinha que anotar o horário e o motivo. Logo começaram surgir justificativas como “vou a farmácia comprar modess” e o tal livro desapareceu.Os Bloch viviam em perpétua paranóia de perseguição. Tinham pavor de serem traídos ou enganados. Contava-se que Adolpho Bloch, eventualmente, ia a sala das telefonistas e elegia, aleatoriamente, um ramal, para ouvir a conversa. Nunca soube se era verdade, mas certamente não era improvável. Se naquela época, o monitoramento interno com câmeras, fosse um procedimento comum, como hoje, certamente haveria no prédio do Russel, uma por metro quadrado. O sistema era tão eficiente, que anos mais tarde, quando eu já era diretora de revista, fui abordada por Oscar Bloch que, muito grave, pediu-me que fosse sincera e confessasse que estava trabalhando em outro lugar. O DP havia anotado que todos os dias, eu me ausentava pontualmente num determinado horário, o que só poderia significar que eu tinha outro emprego. Àquela altura, completamente adaptada ao surrealismo da empresa, expliquei pacientemente que era quando eu fazia ginástica na academia do hotel Glória, que ficava a poucos metros da editora. Convencido, ele me cumprimentou pela iniciativa em prol da minha saúde.Para quem se acostumara ao ritmo frenético das redações de televisão e jornais onde se produziam duas ou três matérias por dia, as primeiras semanas na redação de Fatos & Fotos, foram de um tédio insuportável. Recebia minhas pautas, produzia minhas matérias com a rapidez para a qual fora treinada, e passava o resto do tempo lendo ou conversando com os colegas, alguns interessantíssimos e brilhantes como o músico Paulo Simões, Sandra Menezes e Heloisa Marra. Mas o tempo – precisamente o excesso dele – foi mostrando as possibilidades da reportagem de revista, não só quanto à linguagem, mas quanto à precisão da informação, ainda que as pautas não fossem – na minha opinião – tão relevantes. Havia mais tempo para a pesquisa, para ouvir uma terceira fonte, que ainda que não fosse essencial, enriqueceria a matéria. Havia liberdade para sugerir temas nas reuniões de pauta, de modo que procurei me esmerar em trazer sugestões interessantes evitando, assim, ser escalada para ouvir os motivos da separação do astro da novela das oito ou entrevistar o pai de santo, campeão de passes, nas areias de Copacabana, no último reveillon.Mas, sobretudo, o que mais me encantava eram as possibilidades da linguagem de revista, em Fatos & Fotos, sob a batuta de Paulo Alberto. Treinada no rigor da redação para jornal por mestres como Boris Casoy - na faculdade de jornalismo - e mais tarde, por Moura Reis na sucursal paulista de O Globo, aprendi que o repórter “apura e reporta”, não interfere, não opina. Meu texto escorreito e seco, aos poucos foi ganhando cor e vivacidade. As longas tardes passaram a ser ocupadas por reescrever à exaustão a mesma matéria, experimentando adjetivos, uma pitada de humor, um pouco de sarcasmo. Descobri que um fato banal podia se transformar numa reportagem saborosíssima, sob a luz de uma interpretação mais crítica e com os adjetivos corretos. A arrogância intelectual dos primeiros tempos foi desabando diante da perspectiva do novo aprendizado.E fui aprendendo também sobre aquela casa, tão cheia de paradoxos, onde duas vezes por dia, garçons circulavam pelas redações oferecendo café em xícaras de porcelana a funcionários pessimamente remunerados. Onde almoçava-se diariamente, em mesas de granito com sousplat de prata e copos de cristal bico de jaca, lado a lado com os patrões e, freqüentemente, com artistas e políticos convidados por eles.Muito se falava sobre o triunvirato que comandava Bloch Editores, Adolpho e seus sobrinhos Oscar e Jaquito – Pedro Jacques Kapeller. A história do imigrante russo que vendia lápis, se tornou gráfico e criou um império jornalístico me fascinava. Em vão procurava vislumbrar o mago dos negócios, no velho de passos arrastados, fala anasalada e chorosa, permeada de palavrões. Adolpho sempre me pareceu muito velho e frágil. Verdadeiro personagem de lenda urbana, havia sobre ele um sem número de anedotas, histórias de terríveis injustiças, insultos e também de rasgada generosidade. Reais, enriquecidas, interpretadas, aumentadas, inventadas essas histórias povoavam o imaginário dos funcionários, principalmente, os dos escalões mais baixos que tinham quase nenhum contato com ele. O que era raro, porque para Adolpho, seus funcionários eram uma espécie de família e suas empresas uma continuação de sua casa, o que tornava trabalhar na Bloch, uma experiência singular. No operacional, pontificava Jaquito, o mais jovem do trio que tentando imitar o estilo autoritário e rude do tio, porém desprovido de seu carisma, acabou por se tornar o mais odiado e temido dos três. Finalmente, Oscar, mais distante das redações movimentava-se com desenvoltura nos altos escalões do governo, dos bancos e dos grandes anunciantes. Este, para mim, oferecia menos perigo. Adolpho e Jaquito, já mereciam toda cautela. Temperamentais, explosivos, emocionais, demitiam e expulsavam funcionários sumariamente pelo menor motivo. Da mesma maneira, como eram capazes de relevar faltas imperdoáveis. Tudo dependia do dia, das vicissitudes que regiam o humor de ambos e principalmente da vendagem das revistas.Meu primeiro contato direto com o Jaquito foi dois meses depois da minha chegada, por ocasião do carnaval. A cobertura de carnaval na Bloch era o acontecimento do ano, uma operação de guerra. Deslocavam-se repórteres de todas as redações para a cobertura completa, publicada em sucessivas edições de Manchete e Fatos & Fotos. Poucos dias antes, realizava-se a reunião geral onde compareciam todos os repórteres, fotógrafos e editores envolvidos. Retida por uma entrevista, cheguei com a reunião já pelo meio. Na redação de Manchete, dezenas de profissionais se acotovelavam para ouvir o Jaquito que, de pé, sobre uma cadeira, urrava ordens e orientações. Um circo! Quando chegou ao item fotografia, o ponto forte das coberturas, Jaquito começou dizendo que “queria muita grande angular! Entenderam? Muita grande angular”, quando foi interrompido pelo Gervásio Batista, então chefe da fotografia, “Escuta, Jaquito, você é fotógrafo? Nós vamos usar grande angular quando for necessário, você não sabe do que está falando”. Jaquito vacilou, mas contra-atacou batendo na tecla da grande angular e a reunião acabou numa troca de insultos entre os dois. E o Gervásio, claro, comandou seu batalhão de fotógrafos durante a cobertura, como achava que devia e ponto final.As mudanças de comando nas revistas, particularmente nas semanais eram freqüentes e sempre traumáticas. Ou demitia-se o editor ou o mesmo se demitia, ou era enviado para um limbo qualquer dentro da editora, até que a roda da fortuna girasse e ele voltasse ao seu posto. Logo após o carnaval, foi a vez de Paulo Alberto que deixou não só Fatos & Fotos, como a empresa. No seu lugar, assumiu Justino Martins com a missão de imprimir novo estilo à revista e levantar as vendas. Com Paulo Alberto saíram outros, entre os quais o Marco Antonio Gay. Eu tinha sido a mais nova contratada da redação, por recomendação de Moisés Weltman, criador da revista Amiga e da série radiofônica “Jerônimo, herói do Sertão” que mobilizou toda uma geração na década de 50. Moisés, já afastado da direção das revistas da Bloch – levado por Silvio Santos para criar o SBT -, mas ainda atuando como uma espécie de consultor, profundo conhecedor da casa, tratou de me “esconder”. Levou-me para cobrir férias de uma redatora de uma revista chamada Carinho, da qual eu nunca tinha ouvido falar. Aconteceu muito rápido, ele entrou na redação, pediu que juntasse as minhas coisas e minutos depois me depositava em frente à mesa de Daisy Prétola, a editora de Carinho.Fui recebida secamente como compete a funcionários impostos às chefias. Daisy Prétola me queria em sua redação, tanto quanto eu desejava estar lá. Meu recente encanto com revistas desvaneceu-se à vista da revisteca de título piegas e chamadas de capa do tipo “Descobri que meu namorado tem outra”, ou “Minha melhor amiga roubou meu namorado”. A redação ficava no sexto andar, distante do centro do poder, portanto, epicentro dos furacões, do oitavo andar, onde Adolpho e Jaquito tinham sua sala. Carinho dividia espaço com outro departamento que atendia pelo pomposo título de “Central Bloch de Fotonovelas”. Sim, a Bloch produzia suas próprias fotonovelas. Enquanto as concorrentes, Editoras Vecchi e Abril importavam eletrizantes histórias de amor em quadrinhos, italianas, a Bloch, aproveitando a vizinhança com a TV Globo, seus astros e roteiristas de telenovelas decidiu criar suas próprias fotonovelas com artistas nacionais, de preferência, os que estivessem no ar, naquele momento. As produções eram pobres. Não havia verba para locações, pediam-se casas emprestadas, barcos, os próprios atores e atrizes tinham que trazer o guarda roupa. O aterro do Flamengo, em frente, o jardim do Palácio do Catete, ao lado, foram cenários de centenas de beijos apaixonados dos protagonistas destas produções. Era prático, economizava-se o transporte e a verba de alimentação, já que todos podiam almoçar no restaurante da editora. Nunca soube exatamente o cachê pago aos “globais” que participavam dessas “aventuras fotográficas”, mas comentava-se que era muito pouco, pelo menos, para o status de alguns deles. E mesmo assim, Janete Clair, entre outros, chegou a escrever roteiros para fotonovelas publicadas em Sétimo Céu. Mas, com todas as dificuldades, aliadas a uma espécie de amadorismo incrivelmente profissional, o resultado era de qualidade surpreendente, nada deixando a dever às congêneres estrangeiras e com a vantagem de apresentar os astros do momento, o que as tornava muito mais atraentes para o público, alavancando a venda da revista.A “Central Bloch de Fotonovelas”, na verdade se resumia a um diretor, dois fotógrafos e seus assistentes, um produtor de elenco e um redator. Carinho também publicava fotonovelas, mas como era uma “prima pobre”, a ela só cabiam as produções ainda mais baratas, com atores iniciantes ou aspirantes, desconhecidos de boa aparência. Era uma vizinhança no mínimo exótica, sob a chefia do exuberante teatrólogo e político Pedro Porfírio que entre uma e outra contratação de atores, nos brindava com inflamados discursos petistas para, em seguida, mergulhar em mais uma historieta de amor e traição.A redação de Carinho era pequena, a editora, duas repórteres e duas estagiárias que só chegavam depois do almoço, um diagramador e um montador. A revista era jovem, menos de dois anos de circulação. Tinha nascido na esteira do êxito de uma publicação similar da editora Abril, chamada Carícia. Alguém na Bloch, encontrou registrado, em nome da editora, a marca Carinho e achou que seria uma boa idéia um título parecido para confundir as leitoras. A Bloch adorava esse tipo de artifício. O custo de produção era mínimo, pois criou-se um formato (checar formato) em que se utilizavam aparas de papel de outras publicações e a impressão era realizada nos intervalos ociosos das rotativas. A primeira redação foi recrutada em outras revistas. Daisy Prétola vinha da revista Amiga, além dela, apenas o diagramador Hélio D´Andrea tinha alguma experiência. As demais eram recém-formadas ou estagiárias. As fotonovelas eram fornecidas pela Central Bloch e a moda realizada pelas produtoras de Desfile que tinha um competentíssimo staff, mas que nunca chegou a compreender ou a se interessar pelas características específicas de Carinho. Restava à redação, a produção de matérias de comportamento dirigidas a um público feminino, classe C de 15 a 20 anos.Bloch editores, nunca teve cultura de marketing ou comunicação. A idéia era que as revistas fossem lançadas e descobertas pelo leitor nas bancas. Não se faziam estudos de mercado, programavam-se lançamentos. Muitas vezes, apenas repetia-se a fórmula de uma publicação bem sucedida já lançada pela concorrência ou copiada do exterior. No máximo, o que havia, eram anúncios nas próprias revistas da editora, se houvesse espaço sobrando. Se em seis edições – às vezes menos - a revista não se firmasse, tirava-se de circulação e o fracasso, é claro, ficava na conta do editor. Nesse aspecto, porém Carinho era um caso especial. Se não desse lucro, dificilmente daria prejuízo em função de seus custos. Isto deu a Daisy, tempo para promover os primeiros ajustes, exigindo a aprovação prévia das fotonovelas que seriam publicadas, transformando uma de suas repórteres em produtora de moda, adequando essa seção ao perfil da revista.Mas faltava o diferencial que distinguisse Carinho de sua principal concorrente. A fotonovela, apesar de nacional, não trazia grandes astros, os temas das reportagens eram muito semelhantes e Carícia, apoiada numa estrutura muito mais profissional, continuava milhas à frente. A resposta veio da experiência anterior de Daisy, antes de aportar no jornalismo. Professora do curso de modelos da Socila, a escola de etiqueta e boas maneiras para moças, que fez história no Rio de Janeiro, na década de 60, havia também participado, por alguns anos, da organização do concurso Miss Brasil. Assim, ela transpôs para a revista o conceito do concurso, criando uma promoção onde a própria leitora seria a capa da revista. A mecânica era simples. Bastava que a leitora preenchesse um cupom com seus dados e anexasse uma foto de rosto e outra de corpo inteiro. O sucesso foi imediato. Eram de duas a três mil cartas por mês. Provavelmente a maior correspondência de toda a editora. As fotos, na maioria eram terríveis, caseiras, desfocadas, mal iluminadas, um horror. Mas Daisy tem uma sensibilidade incomum para descobrir talentos. As reuniões para decidir a felizarda do mês eram longas e polêmicas e ela muitas vezes optava pela menos cotada. Poucas vezes se enganou.Quando cheguei a Carinho, como Weltman me garantiu e à Daisy, por um período de apenas um mês, até que os ânimos se acalmassem no oitavo andar e a tal redatora voltasse de férias, a revista começava a decolar. Tinha chamado a atenção da diretoria, principalmente por ter recentemente publicado uma leitora mulata, na capa. A vendagem foi um sucesso e algumas grandes agências perceberam que havia, ali, um nicho de mercado a ser explorado. Daisy começou a fazer apresentações sobre a experiência de Carinho ao mesmo tempo em que insistiu em capas multirraciais. As asiáticas venderam pouco. As negras, menos do que as mulatas. As morenas definitivamente vendiam bem, tanto quanto as tradicionais louras. Aos poucos o mercado se debruçava e começava a identificar quem era a adolescente brasileira da classe C, estabelecendo sua identidade e conseqüentemente seu hábitos de consumo. Daisy procurava computar esses dados com o auxílio do departamento de pesquisa e sobrava cada vez menos tempo para a rotina da redação.Firmemente decidida a buscar outro emprego, mais adequado às minhas aspirações profissionais, consegui uma entrevista com Zuenir Ventura, que naquele tempo chefiava a sucursal carioca de Isto É, e obtive a promessa de uma vaga de repórter para dali a dois meses. Enquanto isso, até na tentativa de fazer o tempo passar mais depressa, procurei me ocupar o máximo possível, tentando compreender aquele novo universo. Sendo a menos inexperiente do grupo, acabei não só recebendo as tarefas mais complexas, como era voluntária para qualquer trabalho que aparecesse. Entrevistava, redigia, escrevia horóscopos, aprendi a editar e lia e respondia as cartas das leitoras. Aquela correspondência me mobilizava, comovia e era de lá que eu extraia a matéria prima para as sugestões de pauta. As cartas mediam diariamente o pulso da revista, indicando o caminho, apontando as rotas de correção. Aquilo era real, era a resposta de centenas de meninas que nos confiavam seus problemas, pediam opiniões sobre tudo, da briga com a mãe, ao vestido de casamento, passando inevitavelmente pelos problemas com o namorado.Fui ganhando a confiança da editora e em pouco tempo estabelecemos uma parceria produtiva e uma grande amizade que já atravessa mais de duas décadas. Havia em Carinho, um espaço enorme para crescer profissionalmente. Entrei como repórter e em menos de três meses fui promovida à redatora. O convite para Isto É, veio, de fato, não dois, mas quatro meses depois. Tarde demais, eu já estava completamente tomada pela revista. Assim, declinei da oportunidade de trabalhar e aprender com um dos maiores jornalistas brasileiros. Estava conhecendo e começando a apreciar um outro tipo de jornalismo. Nada a ver com a minha formação acadêmica forjada no exemplo de Mino Carta e a experiência da revista Realidade, ou no nascimento do Jornal da Tarde, com sua diagramação revolucionária e pinceladas de jornalismo literário. Carinho era o laboratório onde tínhamos a oportunidade de criar a nossa própria experiência e melhor, ainda, quase sem interferência da diretoria. Claro! Boa e barata, vendendo razoavelmente, não havia porque Jaquito e Adolpho interferirem muito.O êxito de Carinho, nas bancas continuava número após número, apoiado principalmente no concurso da capa. A quantidade de cartas que continham dúvidas e perguntas sobre sexo nos deu a idéia de preparar um número especial sobre o assunto. Daisy obteve o aval da diretoria e lançamos ‘Carinho Sexo, tudo o que você quer saber, mas não tem coragem de perguntar”. A tiragem modesta de 100 mil exemplares, esgotou-se em pouco mais de 15 dias. A diretoria adorou e decidiu transformar a edição especial, em mensal. A nova revista não trouxe acréscimo à equipe e o ritmo foi ficando parecido com o de redação de jornal. Duas revistas mensais, Carinho e Carinho Sexo, feitas pela mesma equipe e lançadas com espaço de 15 dias, entre uma e outra. Vivíamos em fechamento e consumíamos 20 dias entre pautar, redigir e fechar cada uma delas. Obviamente também, a redação não teve nenhum acréscimo no salário. O raciocínio era que continuávamos trabalhando as tais 40 horas semanais, portanto, se não havia aumento de horas, não havia razão para aumento de salário.Carinho Sexo repetiu o sucesso de Carinho. O que fazíamos como rotina, fora da editora era encarado como façanha – levando-se em conta que os recursos gráficos eram primitivos quando comparados aos atuais. Tive esta percepção alguns anos mais tarde, num rápido estágio, na editora Condé Nast, em Nova Iorque. Jaquito vinha acompanhando com interesse o crescimento de uma nova publicação da gigante americana, uma revista feminina chamada Self. Sua idéia era lançar um veículo similar para competir com Nova, da editora Abril. Fui encarregada de desenvolver o projeto, e aproveitando uma passagem que havia ganhado numa negociação de reajuste de salário, fui mandada para lá, durante as minhas férias, sem a menor cerimônia. Coisas que só aconteciam, mesmo, na Bloch. Era janeiro e logo no meu primeiro dia fui levada para acompanhar a projeção das fotos para a escolha da capa de....maio!!! Para quem estava acostumada a aprovar uma capa a cada 15 dias, foi inusitado. Os jornalistas de Self estavam tão interessados na minha experiência, quanto eu na deles, e lá pelas tantas, a coordenadora de redação me perguntou com que antecedência trabalhávamos cada número. Não tive coragem de dizer a verdade, “um mês”, menti. Ela estranhou, “e quando vocês erram?”, perguntou, “Nós não erramos”, disparei, sem pensar no absurdo da resposta, mas que era a mais pura realidade. Enfim, em Self aprendi que o conteúdo editorial é somente um dos componentes para o sucesso de uma publicação. Aprendi sobre estudos de mercados, plano de negócios, plano de marketing, investimento, break even. Coisas de que jamais havia ouvido falar nos meus, então, quatro anos de Bloch. No café de despedida com a diretora de redação, perguntei, na opinião dela, qual era o componente mais importante para o sucesso da revista. “Vários”, disse ela, “competência, trabalho duro e cinco anos para errar. Quanto tempo vão dar a você?” Eu sabia que não teria nem um ano, mas apesar de toda a preparação, a nossa Self que foi batizada de “Nossa” – a Bloch não perdia a mania -, por diversos motivos, mas principalmente pela falta de recursos para o investimento necessário, nunca saiu do número zero.Mas em Carinho, o único investimento necessário eram idéias. A capa, com as leitoras, havia dado tão certo que Daisy decidiu ampliar a promoção, abrindo outras oportunidades com o concurso “Seja manequim de Carinho”. A mecânica era exatamente igual a da promoção da capa, e mensalmente duas leitoras eram selecionadas para posarem para a matéria de moda da revista. No primeiro mês do lançamento do novo concurso, tivemos poucas fotos e todas muito ruins. A muito custo, havíamos selecionado uma, quando Daisy me mostrou uma foto, trazida por um assistente do laboratório fotográfico. Olhei a loirinha de cabelo ralo, mandíbulas aumentadas pelo ângulo da foto, com uma coroa de “Rainha das Piscinas” de algum lugar, enterrada na cabeça. Nada melhor do que as fotos que já tínhamos, e foi o que eu disse. “Essa menina tem brilho”, insistiu Daisy, contrariando a opinião da maioria. Veio a menina, sorridente, simpática, acompanhada da mãe. As fotos foram feitas na Barra da Tijuca, pelo Alexandre Cavalcanti que normalmente fazia a moda de Carinho, com produção de Guiga Soares, Lucia Vianna e maquilagem de Thomas Dourado. O resultado foi fantástico. Mais uma vez Daisy havia acertado, e no mês seguinte Xuxa Meneghel estreava como modelo nas páginas de Carinho. Mais tarde, Xuxa fez diversas capas e reportagens de moda para a revista. Sua relação com Carinho foi sempre de estima e gratidão. Já no auge da fama, ainda fazia questão de, pelo menos, uma vez por ano, fazer uma capa para nós e, dizem, nem se dava ao trabalho de receber o cachê. Quando a TV Manchete foi inaugurada e tive autorização de produzir comerciais para Carinho, Xuxa estrelou o primeiro da série, cujo tema era “Eu comecei em Carinho”. A descoberta de Xuxa e outras como Bia Siedl e Márcia Porto, alimentava o sonho das leitoras e fazia crescer a circulação da revista.Carinho se firmava e conseqüentemente se profissionalizava. A redação ganhou reforço de jornalistas, uma sala exclusiva. Organizamos um time qualificado de consultores, médicos, psicólogos, sexólogos que nos auxiliavam nas pautas e matérias. Falava-se cada vez mais sobre sexo e relacionamento e, portanto, necessitávamos de fontes criteriosas. A relação das leitoras com a revista era incrivelmente íntima, o que nos tornava extremamente cuidadosas quanto ao conteúdo editorial. Passei por todas as posições da redação, de redatora, fui promovida a chefe de reportagem e, depois a chefe de redação. Quase três anos depois da minha chegada a Carinho, sem indício algum que prenunciasse a mudança, Daisy foi transferida para a revista Sétimo Céu e eu assumi Carinho. Como era costume na Bloch, tudo aconteceu muito rápido. Daisy foi chamada para uma reunião na diretoria, voltou meia hora depois, despejou a notícia numa redação atônita, limpou a mesa e já na porta, avisou que eu assumiria a revista.Eu nunca havia trocado palavra com Jaquito ou Adolpho e tinha certeza de que nenhum dos dois tinha a mais vaga idéia de quem eu era. Esperei em vão um chamado deles que confirmasse minha nova posição, acompanhada, eu esperava, por um reajuste de salário. Durante três dias nada aconteceu e decidi pedir a Daisy que me apresentasse ao Jaquito. Ele me recebeu rapidamente, recomendou que continuasse o bom trabalho da Daisy e só. Eu tinha uma redação de dez funcionários, duas revistas que somavam cerca de 300 mil exemplares e pouco mais de cinco anos de experiência profissional. Só podiam estar brincando. Não estavam.Na verdade, a rotina da redação pouco se alterou, mas tive que interagir com departamentos e exercer outras atividades que pouco conhecia. Tive muita sorte e a ajuda não veio, como se poderia esperar, dos meus pares, mas sim de outras pessoas que eu mal conhecia. Ajudaram-me e ensinaram, os produtores, funcionários quase sempre rudes e mal humorados, em eterna luta com os editores, pelo cumprimento de prazos. Na gráfica contei com a infinita paciência do chefe da rotogravura, Hélio Pasine que passou longas tardes me explicando este processo de impressão. Fui admitida no parque gráfico, em Parada de Lucas, no meio da madrugada para assistir a revista entrar em máquina. Até o chefe do offset, o temido Milton Soares, conhecido por levar à diretoria qualquer mínima escorregadela dos editores “me adotou”. Acostumei-me a ser acordada no meio da madrugada, duas vezes por mês, para revisar e assinar a prova heliográfica, última chance de mudança antes de a revista ser impressa. Muito dessa boa vontade geral devia-se ao carisma da própria Carinho, que vendia bem, não dava maiores problemas e cuja redação esbanjava em entusiasmo o que lhe faltava em experiência.Sempre tive o hábito de permanecer na redação depois do expediente, revisando o trabalho do dia e preparando o seguinte. Eventualmente, Jaquito percorria os corredores do sexto andar, neste horário, checando o que estavam fazendo um ou outro redator ou editor retardatário. Um dia entrou na minha sala, deu uma olhada nas chamadas de capa que eu estava redigindo, sentou-se na cadeira em frente, e começou a conversar sobre a revista. Ele quase nada conhecia sobre a rotina da redação de Carinho. Sabia alguma coisa sobre o concurso da capa, acompanhava a vendagem, sempre satisfatória e era só. Aquela primeira conversa acabou virando hábito e, não raro, eu era “intimada” a terminá-la, jantando na casa dele. De início, achei constrangedor impor à esposa e aos quatro filhos, no único horário em que se reuniam, a continuação do assunto profissional, mas eles pareciam não se aborrecer. Eventualmente, outro editor era arrastado comigo – ou eu, com ele – e a conversa seguia até a madrugada. Roberto Barreira, editor de Desfile e diretor de um grupo de revistas que incluía Pais & Filhos, era outro convidado habitual. Dessas conversas surgiam idéias fantásticas de novas publicações ou inovações, imediatamente esquecidas no dia seguinte. E não se falava mais no assunto.Acabei entrando no raio de visão de Adolpho também, apesar de que, desconfio, ele nunca soube meu nome. Eu era a “menina da Carinho”. Quando nos encontrávamos nos corredores, me abraçava e se lamuriava, “tá vendendo bem, não tá? Só você me ajuda, eu preciso muito que você me ajude”, e para quem estivesse com ele “essa menina me ajuda muito” e seguia caminho, arrastando os pés e resmungando. Não sabia o que dizer, concordava, sorria, ficava muda. Nunca me senti à vontade na presença dele. Mas passei a integrar a família. Era convidada para todas as suas festas de aniversário e outras comemorações, tanto na editora, quanto na casa dele, no Rio ou em Teresópolis, ou na de suas irmãs. Acostumei-me aos pacotes de queijo francês, mimos que ele distribuía aos seus editores e diretores, na volta de suas viagens à Europa. Era tudo muito pessoal, mas a gente se habituava e acabava achando normal. A nova familiaridade da diretoria com Carinho e a descoberta das possibilidades do título gerou mais duas edições extras semestrais, “Dicionário do Sexo” e uma anual, “Carinho Horóscopo”. A equipe e os salários, claro, não sofreram alteração. As tiragens mensais variavam entre 300 e 400 mil exemplares, somando as duas revistas, mais 150 mil de cada edição extra. Nenhum diretor checava nossas pautas ou pré-aprovava nossas capas. Teoricamente, Carinho fazia parte de um grupo de revistas dirigido por Moisés Weltman, do qual faziam parte Amiga e Sétimo Céu. Quando Weltman se desligou definitivamente da Bloch, provavelmente por inércia, esqueceram-se de enquadrar a revista sob outra diretoria. O resultado é que a revista fazia vôo solo, por nossa conta e risco. Sem nenhuma interferência, além das limitações de verba para produções, compra de material estrangeiro e a tremenda dificuldade de negociar melhores salários para a redação. Era confortável e passávamos ao largo das crises que, por vezes, atazanavam outras revistas. Nunca houve em Carinho corte de funcionários, imposto pela diretoria, ou qualquer tipo de demissão traumática.Dois anos depois de eu ter assumido a direção da revista, num espasmo de modernidade, a Bloch decidiu investir no seu departamento de promoções que, na verdade, não promovia coisa alguma. Apenas se incumbia de fazer os anúncios de suas revistas para serem veiculados umas nas outras. Foi contratado, para dirigi-lo, Genilson Gonzaga que voltava à editora, por onde já havia passado em duas ocasiões anteriores. Ativo, enérgico, bem humorado, ele chegou disposto a fazer o melhor com os minguados recursos que lhe haviam sido disponibilizados. Como sempre, não houve apresentações, ou sequer um memorando que informasse aos editores a nomeação e as funções do novo gerente. Um dia, ele irrompeu na redação de Carinho, apresentou-se e começou a expor uma idéia que, acreditava, aumentaria muito a circulação da revista. Tratava-se apenas de transformar o concurso da leitora da capa, num concurso de beleza, ao vivo e mensal. Nada mais estapafúrdio, nada mais inexeqüível. Uma iniciativa como aquela demandaria uma equipe especializada, uma estrutura profissional e sobretudo investimento financeiro. Além disso, éramos uma equipe pequena que contava tostões e suava pra produzir duas edições mensais, sem falar nas extras. Não haveria como sobrecarregar ainda mais a redação. Mas o Genilson era determinado. Só queria saber se eu me interessava pela idéia. A operacionalidade ficaria por conta dele.Em menos de duas semanas, fui convocada para uma reunião na Socila que havia mudado de mãos e cujo novo dono desejava imprimir nova imagem à tradicional escola que, além de boas maneiras, também formava modelos e manequins. A Socila se encarregaria da preparação das candidatas, cedendo suas professoras e ainda anunciaria na revista, verba que seria canalizada para o pagamento de equipamentos de som e luz. Genilson obteve o apoio de Carlos Sigelman, diretor da rádio Manchete que cedeu um de seus comunicadores para a apresentação do evento e também se encarregou da trilha sonora. Mas faltava o principal: o local.Freqüentador de clubes, Genilson sabia da extrema dificuldade dos diretores sociais em contratar eventos que, de fato, movimentassem as entidades. Enviou algumas cartas e em pouco tempo, já tínhamos uma fila de clubes candidatos a sediar o concurso. A proposta era a seguinte: o clube cederia suas instalações, montaria palco e passarela, faria a divulgação entre os associados e venderia o convite para o evento. Ou seja, pagaria as despesas e, com sorte, teria algum lucro. A maquilagem e cabelos ficariam a cargo de Thomas Dourado, que normalmente fazia as nossas capas. Aliás, maquiladores e cabeleireiros que produziam as capas da Bloch tinham um cachê simbólico. A eles o que interessava era o crédito que impulsionava suas carreiras profissionais. Consegui o apoio da Coty, através de sua então assessora de imprensa Laura Oldemburgo que nos cedeu os produtos. Da produção das candidatas, se encarregaria Lucia Vianna, produtora de moda da revista, que assumiu a função extra pelo desafio e oportunidade de novo aprendizado. Tudo pronto, Genilson e eu levamos a proposta à diretoria. Jaquito depois de assegurar-se de que não haveria nenhuma despesa para a editora, deu sinal verde para a nova promoção.O primeiro concurso Garota Carinho foi realizado na sede náutica do Vasco da Gama, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Os dias que o precederam foram de tremenda tensão: selecionar as candidatas que eram mais de duzentas, treinar e coreografar trinta meninas que jamais haviam pisado uma passarela, tudo em apenas uma semana. Eram três passagens. A abertura com todas as candidatas em traje de festa. A segunda, duas a duas, ainda em traje de festa. A terceira, individual, em biquíni. Pausa para contagem dos pontos. Nova passagem com dez finalistas e o gran finale com a vencedora e a segunda e terceira colocadas. Os primeiros ensaios eram terríveis. Aquilo não podia funcionar, era a impressão que dava. Aliás, essa impressão nunca me deixou até o último concurso que realizamos. Era uma agonia olhar aquela sucessão de erros, as poses canhestras, a total inabilidade de algumas delas. Mas o coreógrafo Luiz Otávio Brandão era paciente e persistente e no ensaio geral o milagre se operava. O pelotão caminhava perfeitamente coordenado, os cruzamentos sincronizados e as poses, nas paradas, discretas.Os primeiros scripts foram escritos pessoalmente pelo Genilson, aproveitando sua experiência em rádio, com todas as devidas marcações de som e luz. Com seus roteiros rigorosamente determinados, iluminador, sonoplasta e apresentador comandavam o espetáculo, enquanto nos bastidores e camarim, produtoras e coreógrafos organizavam a entrada das candidatas. Com o passar do tempo, a equipe acabou tão afinada que o roteiro teria sido dispensável.Genilson Gonzaga era um profissional de marketing completo. Fazer decolar uma promoção como o concurso Garota Carinho sem um tostão de investimento da Bloch, foi só o primeiro passo. O segundo e mais ambicioso, foi transformá-la num produto lucrativo. Para o primeiro evento, ele reservou mesas e convidou patrocinadores potenciais e gerentes do departamento comercial da Bloch, pratica que adotamos, daí por diante, em todos os concursos. Osmar Gonçalves, então diretor comercial do Rio de Janeiro, foi convidado para compor o júri e acabou se tornando jurado cativo, onde quer que o concurso fosse. A primeira Garota Carinho do Vasco da Gama, Suzana Garcia, além de fazer a capa da revista, foi levada pelo clube a diversos programas de televisão e viveu intensamente seus quinze minutos de fama. A circulação de Carinho aumentou e ganhamos o apoio do departamento comercial, cujos gerentes partiram em busca de novos patrocinadores.Havia um problema na estrutura do concurso. O intervalo para apuração dos votos das finalistas era longo demais. A contagem era feita com lápis, papel e calculadora, o público se impacientava e a trilha sonora “sossega leão” preparada pela rádio Manchete, às vezes não dava conta do recado. Tendo assistido a alguns concursos, o então assessor de imprensa da gravadora CBS, Verter Brunner procurou-nos com uma oferta fantástica: show de artistas do selo, iniciantes ou em fase de lançamento de disco, para preencher os intervalos. Tudo sem custo para nós. A inovação do show do intervalo fez crescer a lista de espera dos clubes e logo começaram a surgir os convites para outras cidades.O primeiro concurso Garota Carinho realizado fora do Rio de Janeiro, foi em Londrina, no Paraná, promovido pelo distribuidor local da Bloch. Naturalmente, todas as despesas de passagens e estadia da equipe corriam por conta do anfitrião. A CBS levou o cantor Biafra que iniciava carreira, já com um hit “Leão Ferido”, que levou a platéia ao delírio. Biafra viajou conosco muitas vezes e quase virou membro da equipe. Além dele, Emilio Santiago e outros artistas participaram de diversas etapas do concurso. A parceria Carinho/CBS deu tão certo que chegamos a promover um grande show no ginásio do Vasco da Gama, num dos aniversários da revista, com os artistas que haviam participado da promoção e algumas vencedoras do concurso.Mas o departamento comercial da Bloch estava trabalhando e o intervalo foi ficando curto para tudo o que tínhamos que apresentar. A primeira providência foi vender o patrocínio dos biquínis com os quais as meninas desfilavam. Como resultado, durante o intervalo, além do show, tínhamos um desfile de moda, com os produtos do patrocinador. Mais para frente, uma marca de óculos patrocinou também o evento e o desfile teve que ser de óculos e biquíni. Não havia espaço para dois desfiles. Iniciantes ou aspirantes à vida artística apareciam com ofertas de shows. João Cleber ainda no início da carreira, como comediante, proporcionou alguns momentos hilariantes no Ilha Porchat Clube, em São Vicente, São Paulo.Londrina, Foz do Iguaçu, Porto Seguro, Salvador, Marataizes, São José dos Campos, Teresópolis, Varginha, Belém o Concurso Garota Carinho viajou meio Brasil. Em algumas cidades, como em São Vicente, no Ilha Porchat Clube, tornou-se atração anual obrigatória. Odarcio Ducci, eterno presidente do clube, era louco por concursos de beleza e acabou incorporando o Garota Carinho do Ilha Porchat ao seu próprio rol de concursos que incluía Garota Ilha Porchat, A mais bela mulher casada e por aí, ia. Odarcio era um anfitrião pródigo, mas tinha aspirações artísticas e sua única condição era a de ele mesmo apresentar o concurso.Ao longo de três anos o concurso percorreu praticamente todos os clubes do Rio de Janeiro, de Olaria ao sofisticado Iate Clube. O fato de a revista ser destinada ao público C, não parecia fazer diferença para as agremiações, desde que a vencedora tivesse a possibilidade de se transformar na nova Xuxa. Em Salvador, nos acolheu o refinado Clube Baiano de Tênis, em Londrina, o Country Clube, todos clubes de elite de suas cidades. Para garantir a futura carreira das Garotas Carinho, nasceu espontaneamente dentro da editora, uma corrente destinada e levá-las ao estrelato. Daisy Prétola então, em Fatos & Fotos, pinçava com seu olho clínico, as melhores para a página central da revista. Célio Lyra, diretor de Serviços Editoriais e fotógrafo por vocação, fotografava as que lhe pareciam ter maior potencial, em seu próprio estúdio, e se incumbia de distribuir as fotos pelas revistas de moda da Bloch. A sala do Célio era parada obrigatória dos fotógrafos internacionais que visitavam a cidade, e em algumas ocasiões tivemos, a convite dele, a presença no júri de estrelas como o alemão Otto Waiserman. Ao concurso, mas também ao Célio e a Daisy devem o início de suas carreiras, modelos como Márcia Cristine, Magda Cotofre, Márcia Gabrielle e Marcella Praddo, entre outras.Com o tempo, os patrocinadores foram mudando e a equipe também. Diversos comunicadores passaram pelo palco do Garota Carinho, assim como coreógrafos, sonoplastas e iluminadores. No entra e sai, a equipe foi se acomodando e acabamos fechando um time com Jorge Coelho, na coreografia, Lucia Vianna, na produção, Thomas Dourado, na maquilagem e cabelos, Juarez Farinon, da Companhia da Luz – então, recém chegado ao Rio, iniciando carreira - e Roberto Canazio, como apresentador oficial, assessorado pela Márcia Ramos. Márcia era a secretária da redação, uma menina bonita, que sonhava em ser modelo, convertida em assistente de palco, uma vez por mês. O entrosamento e a experiência que a equipe foi ganhando, imprimiu agilidade ao evento e nos tornou capazes de contornar, com tranqüilidade as dificuldades e imprevistos que, é claro, sempre aconteciam. De passarelas que não ficavam prontas a tempo, passando por curtos-circuitos, biquínis que sumiam, tudo podia acontecer e freqüentemente acontecia.Um ano depois do início do concurso, Genilson deixou a Bloch. Eu não tinha alternativa, senão continuar sozinha. Tínhamos já, pela frente, três eventos comercializados e marcados. Com o apoio da equipe, fomos em frente. Passei a escrever os scripts e a me responsabilizar pelos contatos com os clubes e pela comercialização do concurso junto ao comercial, que tirava proveito da promoção fazendo relacionamento. Convidavam não só futuros patrocinadores, como clientes de outras revistas. Até Jaquito e Oscar apareciam, de vez quando, com amigos e família, dependendo de onde estava sendo realizado.A revista estava no auge de sua popularidade impulsionada pelo concurso que já tinha status de produto. Se com o marketing de ocasião, que se praticava na Bloch, era possível faturar com a promoção, imagine-se o que não poderia ter sido feito com uma estrutura bem organizada. Certa vez, recebemos solicitação de licenciamento da marca para uma linha de maquilagem jovem. A negociação demorou, enrolou, o cliente desistiu. Garota Carinho não era sequer uma marca registrada, nem nunca foi.Com o advento da TV Manchete tanto o concurso, quanto a revista ganharam espaço para seus anúncios – depois de dura batalha, diga-se de passagem. Mas produzir comerciais custava dinheiro e como sempre, não havia verba. Pedi permissão para apresentar um roteiro, simples e barato. Era uma seqüência de modelos, reveladas pela revista, que contavam o início de suas carreiras e faziam as chamadas da revista do mês. Acompanhei a primeira gravação, estrelada por Xuxa e acabei dirigindo e editando todas as demais. O resultado dos comerciais era obviamente medíocre, mas vendiam. A Bloch era assim. Quem ganhava a confiança da diretoria se movimentava com uma liberdade inacreditável, principalmente em se tratando de iniciativas que resultassem em economia e aumento de vendas.A chegada da TV Manchete alterou definitivamente o foco da diretoria. Carinho que apesar de sua trajetória brilhante nunca havia perdido sua posição de “prima pobre” da editora, passou a receber ainda menos atenção no que se referia à estrutura e condições de trabalho. A filosofia extremamente centralizadora da casa, tinha dificuldade em dividir-se entre duas mega estruturas e, delegar, era um verbo desconhecido no vocabulário dos Bloch, a menos que fosse a um dos muitos parentes que empregavam. Apesar disso, ou talvez por causa disso, por estarem distraídos demais com a televisão, os Bloch autorizaram o que foi o seu último grande lançamento, Fatos, revista semanal, de informação, concebida para concorrer com Veja e Isto É. Um salto nunca antes ousado pela editora. Apesar da redação brilhante e empenhada sob a direção de Carlos Heitor Cony, a publicação não vingou pelos motivos de sempre, falta de investimento em promoção, ausência de plano de negócios, prazo de retorno. O encerramento de Fatos fez soar mais forte o toque de retirada que eu começava a ouvir nos momentos de reflexão profissional. Eu tinha vinte e sete anos e não conseguia vislumbrar minha carreira na Bloch, nos próximos cinco anos, aliás, sequer nos dois anos seguintes.Foi mais de um ano amadurecendo a decisão de sair. Havia uma grande chance de canalizar tudo o que havia aprendido num negócio próprio, e mais ainda, aprimorar a riquíssima bagagem adquirida empiricamente. Carinho havia chegado ao seu limite e não oferecia mais desafio, bem como o concurso. Enfronhada com os problemas da televisão, não via na Editora disposição para fazer outros lançamentos e, francamente, o “aborto” de “Nossa” não me animaria a repetir a experiência. Foram quatro meses negociando a minha saída com os Bloch. Indiquei para me substituir na redação de Carinho, Maria Rosa Pecorelli, então redatora de Desfile e ainda permaneci por seis meses como consultora de Carinho.Sai da Bloch como o recém formado que deixa a casa dos pais para enfrentar o mundo lá fora. Voltei a editora profissionalmente, ainda, em duas ocasiões. Na primeira, a pedido do Jaquito, promovi uma reforma em Carinho que perdia o fôlego nas bancas. Na segunda, atendendo a um chamado de Lincoln Martins, editor de Ele & Ela e Geográfica Universal, que me transmitia o convite da diretoria, para assumir a direção de marketing da editora. Os negócios a esta altura já iam muito mal. Sabia que esperariam de mim ou de quem assumisse a posição algum tipo de milagre. Era tentador, mas sem a menor chance de dar certo. A Bloch já tinha perdido o trem para o futuro e eu já tinha aprendido um bocado no mundo aqui fora, para saber disso.Quando ouço as impagáveis histórias protagonizadas por Adolpho e por um sem número de personagens que passaram pela Bloch, minha posição é quase de espectadora. A Bloch onde nós, a equipe de Carinho, trabalhamos era outra. Na verdade era nossa própria editora que construímos e conquistamos por motivos, alguns, imponderáveis: sorte, empenho, “o homem certo, no lugar certo, na hora certa”, trabalho, muita ajuda, mais trabalho, união, ousadia. Arriscamos, sempre e muito. Deu certo. Como só poderia ter dado na Bloch.[Marilia Campos]
-“Olha só, Renato, como a minha linha da vida é longa”!
Graças à MANCHETE, eu estava revendo Elis, um ano, cinco meses e sete dias antes daquela triste manhã de 19 de janeiro de 1982, quando ela pediu a nota, mandou fechar a conta e partiu para o outro lado do mistério. A gente não se esbarrava por aí há 17 anos. Um vacilo mútuo, de parte a parte, por conta de equívocos gerados por um desentendimento profissional e artístico ocorrido em agosto de 1964, quando aconteceu o primeiro show noturno, profissional, da vida dela, num barzinho chamado Bottles, no histórico Beco das Garrafas, berço esplêndido da bossa-nova, numa ruela da Rua Duvivier, em Copacabana. (Eu era o autor do roteiro e um dos dois produtores-diretores da encenação, embora conste, até em livros, que foram Miele e Bôscoli. Não foram. Na verdade, eles fizeram o segundo, não o primeiro, no vizinho Little Club). Nunca mais nos falamos, nunca mais tinha nem sequer visto Elis. Pois, tanto tempo depois, já estrelíssima, naquele apartamento alugado com móveis e utensílios na Rua Francisco Otaviano, no Posto Seis de Copacabana, pousada improvisada durante a temporada do show ‘Saudades do Brasil’ no Canecão, ela reatava nosso papo com toda tranqüilidade, como se não tivesse havido nada além do que um pequeno mal-entendido que já tinha ficado pra trás, na poeira do caminho. E, meio indecifravelmente para quem iria morrer da forma que morreu, dizia-se “uma pessoa que adorava viver”. Foi a última vez que ouvi Elis. Confessando acreditar em todas as coisas naturais e garantindo que a quiromancia sempre foi uma coisa natural. Espalmava a mão, apontava com o dedo indicador da outra e chamava minha atenção:-“Olha só, Renato, como a minha linha da vida é longa”!As linhas da mão dela eram umas ignorantes, não sabiam de nada, Elis não chegou nem à pressentida esclerose aos 56, parou nos 36. Personificação de uma contradição, pouco depois ela virava as costas e iria embora sem nem dar adeus. Dos quatro coveiros que fizeram o enterro, Domingos José da Silva, 31 anos, salário-mínimo, nunca teve um disco dela. Quando desceu o esquife ao túmulo número 2.199 da quadra 7 do setor 5 do cemitério do Morumbi, em São Paulo, ele apenas sepultava mais um corpo. Mas calava um canto. E botava um ponto final na carreira turbulenta, porém marcante, de um dos maiores mitos da música popular brasileira. Era
hamos a opção de um bem-montado estúdio. Mas fotografar ao ar livre era mais estimulante. Saíamos todos numa Kombi, as roupas, repassadas e separadas por fotografia, penduradas numa arara. Cabia-nos carregar as sacolas com os sapatos, cujas solas eram protegidas por fita crepe, as bijuterias, e os acessórios para a produção que poderiam ir de um singelo buquê a um arpão. Não tínhamos limites para a imaginação. Cabeleireiro e maquilador a postos, modelos, os produtores e o corre-corre na troca de roupas, o fotógrafo e sua luta em busca de melhor luz, do melhor ângulo, e ao final de algumas horas de muito trabalho estava cumprida a nossa missão daquele dia. Durante aquela semana outros dias se repetiriam até que cumpríssemos toda a pauta daquela edição. Uma vez reveladas, as fotos eram selecionadas por Roberto Barreira, que determinava a página de cada uma delas. Montado o layout da revista, eu o recebia com as medidas de cada texto, de cada título, de cada legenda. Redigir contando as batidas da máquina - sim, porque usávamos máquinas de escrever - era para mim o maior desafio. Mas mesmo assim, apesar das restrições impostas pela forma, eu viajava no texto. Como contei no princípio, lidar com cor e poder detalhar suas nuanças fora a motivação inicial desse meu trabalho. Adorava descrever as roupas, criar termos para os detalhes e até mesmo para as cores. O verde, por exemplo, não era um mero verde. Ele podia ser bertalha, mesa de bilhar, caribenho ou menta. E o que dizer do bege-pancake ou do branco-gloss? Tudo era permitido contanto que passássemos para a leitora a magia daquele registro. E era essa a nossa tarefa. Através das cores, das fotografias e do texto levar a leitora para aquele sonho. E através dele, mostrar o melhor da moda brasileira. Celeiro de modelosA escolha de quem seria a capa do mês era tema de mais uma reunião. Claro que toda mola de rosto bonito disputava aquele lugar. Mas às vezes, a decisão caía sobre alguém que tivesse se destacado naquela edição ou sobre a profissional de atributos mais coerentes com aquela temporada. Ou alguma new face recém-descoberta por Roberto, como foi o caso de Patrícia Pillar, hoje uma bela atriz. Falar em modelo é lembrar de quantas digamos “celebridades” nasceram naquelas páginas. Quando assumi a “Desfile”, as grandes estrelas eram Rose di Primo, Fátima Osório, Leila Richers, Beto Brazil e Luiz Orlando Carneiro. Fátima nos levou Beth Lago, hoje super-estrela de TV, que em pouco tempo alcançou as passarelas internacionais. Lembro-me de minha emoção ao vê-la desfilando para Claude Montana, em Paris. Luiza Brunet, outra “cria” nossa. Aliava um rosto ingênuo, genuinamente brasileiro, a um corpo irretocável. Xuxa, hoje um símbolo, sempre foi um exemplo de profissionalismo. Menina, ela mal sabia o que fazer diante dos flashes, mas ficava atenta observando as modelos mais experientes e crescia a cada trabalho. Márcia Jardim, linda, doce, gentil, era a mais perfeita tradução da mulher racée. Silvia Pfeiffer, hoje, também atriz, nos foi levada por Beth Lago e também conquistou pela elegância, pelo porte. Vicky Schneider, Cristiana Oliveira, Monique Evans, Vicky Laus, Ísis de Oliveira, Veluma, Cláudio Lobato, tantos passaram, impossível citá-los, e tantos ficaram em nossas lembranças. Decidida a modelo da capa, era feita a fotografia. Muitos rolos de filme eram gastos nesta tarefa, sinônimo de ansiedade para toda a equipe, sobretudo para o fotógrafo, o artista da hora. Uma vez aprovada a foto da capa, relaxávamos e aguardávamos a prova da revista, única evidência de que nosso trabalho estava quase pronto. Sim, porque ainda havia a revisão do texto, ler linha por linha atrás de alguma falha e repará-la a tempo. Tudo acertado, lá ia mais uma Desfile para as máquinas e dentro de uns três dias a revista chegava às bancas de todo o país.Números especiaisEm comemoração ao décimo aniversário da Desfile, decidimos lançar uma edição especial que foi para as bancas em setembro de 1979. A primeira de uma série de números de alto luxo. A revista foi toda fotografada em Paris. Embarcamos com um excesso de vinte malas e toneladas de entusiasmo para cumprir a missão. O resultado foi um número histórico, belíssimo, com a moda brasileira mostrada para os leitores nos pontos turísticos mais conhecidos da capital francesa. Paramos o trânsito na Place de la Concorde, subornamos com um boné da Gledson um “flic” no Champs-Elysées que queria nos multar por estarmos estacionados em local proibido, quase queimei um vestido de seda Dior ao repassá-lo de madrugada no hotel, mas ao final de tudo demos um show. E até hoje guardo esta edição com muito orgulho e carinho. O sucesso foi tal que a partir daquele ano, passamos a editar no exterior o número de aniversário da Desfile. E repetimos a dose festiva em Nova York e Tel Aviv, entre outros cenários.Mas nem tudo era festa. Antes de viajar, tínhamos que preparar todo o material que seria fotografado: pensar nas roupas e acessórios; contatar modelos locais, nem sempre conhecidos o que nos dificultava; providenciar licenças para fotografar em locais públicos; alugar carro para transporte da equipe e de todo material; contratar serviços de cabelo e maquilagem. E isto tudo, quando ainda havia distâncias num mundo sem internet. Mas tudo acabava dando certo e o último dia, quando terminávamos o trabalho e nos presenteávamos com umas horas de folga, ríamos muito lembrando as dificuldades que acabávamos transformando em anedotário de viagem. Dessas viagens inesquecíveis, fizeram parte dois profissionais que muito me marcaram: Indalécio Wanderley, talento maiúsculo que fizera carreira como repórter-fotográfico na revista Cruzeiro, de Assis Chateaubriand, e que foi “herdado” pela Bloch. Um companheiro sem limites. E Fred Ayres, a nossa dose diária de bom-humor e irreverência. Ambos já não estão mais entre nós, infelizmente, mas quem viveu no mundo da moda jamais esquecerá esses dois nomes. Esses dois amigos.Seleção de craquesEmbora a moda fosse o assunto principal da Desfile, a revista tratava com igual carinho a beleza, a culinária, os trabalhos manuais e a agenda cultural.A beleza era capitaneada por Ira Costa Gomes, outra profissional exemplar. Trazia reportagens mensais sobre os lançamentos de produtos além de conselhos e entrevistas com especialistas da área. A seção de culinária, um dos xodós de Roberto, aliás, responsável muitas vezes pela produção das fotos no restaurante da Bloch, tinha em Sonia Guajará sua editora. Eram páginas e mais páginas para se saborear, antes de mais nada, com os olhos, tal era a beleza das fotografias. E, diziam os chefs e gastrônomos da época, que as receitas da Desfile eram perfeitas e fáceis de serem desenvolvidas. Aliás, volto em tempo a mais um triste registro. Tanto Sonia quanto Ira já morreram. Flávio Marinho, hoje renomado autor teatral, assinava as páginas da agenda cultural, com resenhas sobre os lançamentos do mundo dos espetáculos e do cinema. Ana Lucia Bizinover, hoje publicitária, era a colunista de TV. Um timaço, portanto.A Bloch faliu em agosto de 2000. Roberto Barreira, guerreiro inconformado, liderou a fundação de uma cooperativa de antigos funcionários e manteve a sua Desfile viva até a sua morte em 2002. Roberto Barreira se foi e junto com ele a revista, sua cria e maior paixão, um marco inconteste do jornalismo brasileiro.A força de uma marcaEmbora tenha ido para a Bloch para ser editora de moda da Desfile, em menos de três meses entregaram-me também a moda de outras revistas da casa. Dentre essas, a da maior de todas, do carro-chefe, a Manchete. A moda na Manchete não era presença obrigatória, semanal, mas sempre que havia algum lançamento, nacional ou internacional, alguma notícia de destaque, ela imediatamente passava a ocupar diversas páginas da revista.Era a moda-reportagem. Exemplo disto a cobertura anual dos lançamentos do prêt à porter. Duas vezes por ano, acompanhada de meu fiel escudeiro e fotógrafo Indalécio Wanderley, eu viajava para Paris para assistir aos desfiles dos principais estilistas. Embora não tivéssemos a estrutura dos colegas da imprensa internacional – equipe numerosa, carros à disposição e outros confortos - sentíamos, Indalécio e eu, o peso da Manchete. A força daquela marca, seu poder. Na distribuição de lugares para os desfiles, os nossos eram os mais bem situados em comparação com os demais cedidos para nossos compatriotas. Sentávamos na mesma fileira, muitas vezes na primeira fila, lado a lado com os temidos editores de moda do Harper’s Bazaar, do New York Herald Tribune e do WWW, ícones do setor. E ainda havia os privilégios. Lembro-me uma vez, antes do início do desfile de japonês Kenzo, em sua “maison” na Place de la Victoire, jornalistas se acotovelando na rua só para ver quais eram os privilegiados convidados do costureiro, na época o “enfant terrible” da moda francesa e o “darling” da moda internacional. Qual não era a surpresa, sobretudo para nossos colegas brasileiros, quando chegávamos Indalécio e eu, convite na mão, dignos representantes de Manchete, sendo recebidos com todas as honras chez Kenzo Takada. O trabalho de cobertura dos desfiles de lançamentos era fantástico, mas ao mesmo tempo exaustivo. Eram mais de vinte desfiles por dia, todos importantes, e como não podíamos assistir a tudo fazíamos uma seleção prévia. Mas assim mesmo a maratona diária começava às 9 da manhã e só terminava lá pelas 10 da noite, quando esfalfados e com a cabeça absorta pelas centenas de informações colhidas nas passarelas ao longo do dia, dávamo-nos o direito de um jantar tranqüilo, longe do burburinho da moda. Mas por mais que fugíssemos do eixo fashion, sempre aparecia um confeccionista brasileiro, que nos abordava, ávido para saber em primeira-mão qual seria a cor da próxima temporada. Uma noite, exausta, não resisti quando um famoso costureiro sentou-se a meu lado na Brasserie Lipp, interrompeu meu jantar sem a menor cerimônia e insistiu em me perguntar qual fora a cor mais usada por Saint Laurent. Amarelo, respondi, consciente de que não vira um só traje neste tom na passarela. O estilista saiu feliz com a informação e eu recuperei a paz para jantar. Meses depois na Fenit, em São Paulo, ao visitar o estande daquele estilista, conferi a força de minha informação nas diversas gamas de amarelo de sua coleção. Naquele momento, a consciência pesou pela inconseqüência de eu ter inventado uma tendência e torci muito para que ele vendesse. Sua coleção foi um sucesso, graças a Deus!!!! De volta da viagem, o resultado de nosso trabalho era publicado em diversas páginas de várias edições de Manchete e Desfile. Além disso, como editora eu ainda visitava os principais anunciantes da empresa interessados nos lançamentos de Paris, levando-lhes minhas anotações de repórter e muitas caixinhas repletas de slides. Aquelas informações, muitas vezes, serviam como ponto de partida para o desenvolvimento de suas futuras coleções. Mais uma faceta da Desfile a serviço da moda brasileira.Era um trabalho que exigia sacrifícios, mas tanto o resultado quanto o prazer eram altamente compensadores. Acreditávamos na moda brasileira, que vimos engatinhar, e jogávamos toda nossa energia no exercício de um jornalismo sério que, espero, sirva de modelo para as novas gerações. A Desfile não existe mais. A Bloch não passa de uma massa falida. O nome Manchete, hoje, remete muito mais à TV do que à excelente revista que um dia foi. Mas nada disso abate o orgulho que tenho de ter dedicado uma boa parte de minha trajetória profissional a estes três símbolos da imprensa brasileira.[Ângela do Rego Monteiro]
12:58 PM
Anonymous said...
Foi uma grande escola? Se foi!Em 1969, o prédio do Russell recém inaugurado, cheirando a novo, tive a ousadia de atravessar aquela enorme recepção com piso de granito e olhar nos olhos da todo-poderosa da época, Laura Platte. Mulheres vestidas com calças compridas, candidatas a trabalhar na Bloch? Nem pensar, era proibido.Sem recomendação , muito menos alguma hora marcada, perguntei se poderia falar com o diretor de publicidade – Dirceu Nascimento ( eu havia visto o nome dele no índice da revista Manchete).Fui olhada de alto a baixo e para surpresa mais dela do que minha, mandaram-me subir. Março de 1969; a revista Ele Ela prestes a ser lançada, precisava de alguém para vender anúncios. Sem saber e sem querer, cheguei na hora e local certos. Naqueles dias todos os contatos e gerentes de publicidade eram homens. O próprio clube do bolinha. Daí a dupla curiosidade da turma. Bem, depois de devidamente sabatinada tanto pelo Dirceu Nascimento, como pelo Luiz Fernando Pinto Veiga ( diretor de publicidade na época)e ainda pelo gerente da sucursal Rio, Acúrcio de Oliveira, fui chamada alguns dias depois e comecei um trabalho que se estendeu até o ano de l986, com uma transferência para São Paulo, entre 1971 e 1976.Eram anos de glória para a revista Manchete e tudo o que mais se lançava. Por conta disso, “tapetes vermelhos” muitas vezes me eram estendidos ao ser anunciada para falar com algum diretor ou dono de empresa. Minha tarefa sempre foi a venda de espaço e várias vezes criar projetos especiais com o intuito de atrair anunciantes .Durante alguns anos, fui supervisora comercial das revistas femininas aonde a Desfile pontificava. Era minha tarefa, também, “vender” a idéia de viagens às principais capitais do mundo como locação para se fotogragar a moda brasileira. Visitava as empresas aéreas, vendia o projeto, conseguia-se as famosas permutas de passagens nos aviões, sempre com promessas de inclusão em fotos.Setembro era o mês de aniversário de Desfile e também a mais caprichada edição do ano. Assim Desfile viajou para lugares clássicos e exóticos, desde o Marrocos até à Áustria, passando por Itália, França, Portugal e várias outras regiões do planeta.Comparada aos dias de hoje, a venda de espaço dava-se em geral, através do empenho pessoal de quem atendia determinadas agências e empresas.Sempre regados a régios almoços no Russell,com o chef Severino se esmerando nos menus, talheres de prata e copos de bico de jac. Tudo para impressionar os convidados que, no restaurante do terceiro andar , tinham ainda o visual da piscina de um lado e do outro, a maravilhosa vista da Baía de Guanabara. Tours pelo prédio faziam parte do ritual, em geral fotos eram tiradas no terraço e depois publicadas na Manchete numa seção avidamente procurada pelos fotografados.Ritual cumprido, os convidados eram encaminhados ao salão de publicidade num dos aquários do 5º.andar, na época.Aí, falava-se de negócios e fechavam-se campanhas, naturalmente com promessas de inclusão nalgum editorial que tivesse adequação. Isto repetiu-se “ad nauseam” durante anos a fio. Quando o dono de agência ou de empresa era importante o suficiente, era também levado a conhecer o Adolpho. Em geral quem cuidava disso era o Oscar Bloch.Passaram-se os anos. Profissionalizaram-se os métodos e técnicas de venda em geral e também de publicidade. Marketing era a palavra de ordem, mas Adolpho não acreditava em marketing.Marlene Bregman esfalfou-se anos e anos sem nunca conseguir que o marketing fosse levado a sério. Ela é hoje vice-presidente de uma grande agência de publicidade internacional e foi indicada para o maior prêmio de propaganda de 2005.Perdíamos em números nas pesquisas feitas pelo IVC ( Instituto Verificador de Circulação.) Era o grande “bicho papão”nos meus embates pelas agências de publicidade, principalmente durante os anos em São Paulo.Aí entrava o que eu chamo de “circo mágico”.No Rio, o Russell, em São Paulo, a Casa da Manchete, década de 70. O grupo Manchete criava e promovia stands enormes nas Fenits e Salões do Automóvel, tudo do bom e do melhor. Fazíamos as honras da casa até o último visitante, mesmo estando já no último bagaço de cansaço. Não se perdia a pose, muito menos o chamado “aplomb”. Éramos ou não os heróis que tiravam sangue de pedra, já não era mais nem leite de pedra!Quando a coisa começou a ficar mais difícil ainda, números e pesquisas desfavoráveis, lá vinham as famosas edições especiais, cadernos e encartes especiais e toca a correr para cumprir prazos ( geralmente estourados), descontos e bonificações aumentando na proporção inversa das dificuldades no momento do fechamento dos anúncios.Pessoalmente, fui aperfeiçoando um método aonde não mais me detinha numa única revista ou projeto especial.Sempre coloquei a conversa em termos da empresa como um todo, a Bloch Editores.Eram os tempos aonde havia ainda a sucursal de Paris, em nobre endereço. Silvio Silveira, fiel até o final, cumpria lá todos os rituais a cada vez que um anunciante por lá aparecia. O telex, propriedade exclusiva do Sílvio , funcionava freneticamente em horas e desoras. Estávamos na era pré-computador e celular.Ganhar tempo significava pontos a favor e Sílvio se matava por isso.Quando os recursos do bem receber já haviam se esgotado, restava ainda para alguns diretores das maiores empresas, bancos ou agências de publicidade, o famoso convite para um almoço na casa da Manchete em Teresópolis. Era a glória!Aos convidados internacionais, pois a Manchete era quase parte do roteiro turístico do Rio de Janeiro, era oferecida pousada num dos apartamentos do prédio do Russell. Lá hospedaram-se vários famosos, como Albert Sabin, Rostropovitch e Sra., se não me engano e mais e mais. Tudo era motivo para se agregar (palavra tão em uso estes dias) mais valor a tudo quanto se referia ao grupo Manchete.Na hora da venda, a todo o resto, somavam-se as histórias, na maioria das vezes, hilárias. Enquanto os futuros anunciantes davam gargalhadas, íamos colocando os contratos e a caneta na frente deles para uma rápida assinatura. Estava feito; abraços e tapinhas nas costas, os beijinhos de hoje não eram tão comuns naqueles dias. Saiam sentindo-se um pouco parte da família Bloch.Em verdade, o estilo único que Adolpho imprimiu à empresa, misturando o profissional ao pessoal, razão e emoção, fez com que muitos de nós funcionários, não só sentíssemos a Manchete como a extensão de nossas casas, bem como foi difícil “desencarnar”depois da minha saída em 1986, para abrir meu próprio negócio. Durante anos e anos, fui conhecida e reconhecida como a Bia da Bloch.Foi uma grande escola? Se foi! Principalmente uma escola da vida, nos bons e maus momentos, mais tarde nos mais tristes momentos. [Beatriz Lajta]
Manchete, Uma página no tempo
20 de outubro de 2005, 15 horas. Para quem passa pela Rua do Russell, o prédio envidraçado da extinta Bloch Editores é apenas um espelho. Quando ali entrei, pela primeira vez, em janeiro de 1975, me perguntei porque Oscar Niemeyer, ao desenhar o edifício, trocou as linhas curvas que marcam sua célebre arquitetura por ângulos e retas empilhados. Lá em cima, no sétimo andar, onde funcionava a redação da revista Fatos & Fotos, observando o cenário por trás dos vidros, entendi a mão do arquiteto. Niemeyer não seria louco de competir com as curvas da belíssima Baía da Guanabara. Dispensou o compasso e traçou o prédio do Adolpho Bloch sem descolar o lápis da régua. Foi sábio. Visto do Aterro do Flamengo, pouco mais de 30 anos depois, o espelho da velha Bloch não mudou. Ainda faz o que lhe cabe: espelha. Permanece mostrando o contorno desfocado da baía. Na moldura de vidro, janelas fechadas, a poeira colada pela maresia, a imagem refletida está lá, em foco e em cores, como um fotograma de uma era. Por dentro, o complexo que abrigou dezenas de revistas e, depois, a TV Manchete, é um deserto perturbador. Os corredores estão vazios, escuros, mas é o silêncio que incomoda. Não há sinais de que aquelas salas foram cenário de tardes e madrugadas de fechamentos tensos, de intermináveis corridas contra o relógio para levar às bancas milhões de revistas e algumas centenas de edições memoráveis. Não se ouve um passo sequer. A máquina do tempo girou. E muito.Havia algo de grandioso já no hall da Manchete. A longa mesa de madeira da recepção, o tapete vermelho da escada que leva ao teatro, luz, espaço e mármore. Na parede à direita dos elevadores de portas de aço escovado, impossível deixar de admirar por alguns instantes a escultura de Franz Krajberg. Um painel onde troncos e raízes, algo dramáticos, parecem romper do concreto. Relevo em Branco, soube anos depois, era o nome da obra. Além da tensão natural que acomete quem se apresenta a um novo emprego, entrar naquele prédio de alguma forma me remetia à infância no Crato (CE). Aí por volta de 1959, o trem da Rede Viação Cearense levava à cidade pelo menos quatro publicações que me interessavam: Sesinho, uma revista infantil editada pelo ....., O Cruzeiro, Seleções do Reader’s Digest e a Manchete. Só que a Manchete que me fascinava não era a revista que Adolpho Bloch lançara em 1952 para concorrer com o Cruzeiro, dos Diários Associados. A Manchete que eu esperava chegar à livraria que revendia os poucos exemplares disponíveis na cidade era a Manchete Esportiva. O Crato, claro, nem sonhava com televisão. Vez por outra um cinema exibia imagens de jogos do Campeonato Carioca no cine-jornal Atualidades Atlântida (o Canal 100 ainda não chegava ao sertão). Cabia então às fotos da Manchete dar vida e ilusão de movimento ao meu então já querido Vasco. Uma coisa era ouvir os jogos através das rádios Tupi, Nacional ou Mayrink Veiga. Outra, mesmo que duas semanas depois, era ver Paulinho, Bellini, Coronel, Delém, Orlando, o goleiro Barbosa, o ponta Sabará, o endiabrado Almir, Pinga e até o cearense Pacoti, que saiu do tricolor Fortaleza para jogar por uns tempos naquele time de cobras. Aos onze anos, morando tão longe do Rio, não fazia a menor idéia se Nelson Rodrigues era ou não um teatrólogo de respeito. Para mim e para a meninada do Crato, torcedora de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, Nelson era um cara que escrevia engraçado e contava para a gente um jogo que o rádio jamais nos trazia. A prioridade da meninada era mesmo ver as fotos mas lembro que li uma vez na sua coluna – Meu Personagem da Semana – uma crônica hilária sobre uma bola que bateu em um bandeirinha sobrou para o centro-avante Henrique. Era um FlaXFlu e Nelson, certamente exagerando, inventou uma fantástica tabela do tal bandeirinha com os rubro-negros Henrique e Dida, que fuzilou o gol do Flu. Era na Manchete Esportiva, já extinta, que eu pensava quando subi pela primeira vez os elevadores da Bloch. Não tinha idéia de que passaria ali, entre bons e maus momentos, como de resto é a vida, alguns dos mais intensos anos da minha vida. Trabalhei na Bloch em duas etapas: de 1975 a 1986 e de 1988 a 1996. Um total de quase 18 anos. No breve intervalo, fui subeditor do Segundo Caderno do Globo (o editor, que me levou para lá, foi o jornalista Humberto Vasconcelos), e colaborei para revistas da Editora Globo, como a Criativa, então recém-lançada, e publicações de São Paulo, como a AZ, de Joyce Pascowitch. Na Bloch, embora tenha feito matérias para a Ele Ela e a Geográfica, atuei em apenas três revistas: a Fatos & Fotos, a Fatos e a Manchete. A primeira, pela qual tenho especial carinho, foi a minha escola. Nunca chequei isso, nem o Guiness se preocuparia com tal insignificância, mas acho que sou o jornalista, com nome no expediente e tudo, que mais tempo ficou na Fatos & Fotos. Se havia algo de errado comigo ou com a revista, que era meio conturbada e vivia em crise, não sei, mas foram onze saudosos anos. Nos quadros da F&F, a alta rotatividade era a regra. Fui ficando e passando de repórter a chefe de reportagem, redator, chefe de redação, editor. Na F&F trabalhei com diretores como Moysés Fuks, Moisés Weltman, Zevi Ghivelder. Todos bons amigos. Mas dois nomes que se sentaram na mesa em L da direção da revista foram especiais: Justino Martins e Carlos Heitor Cony. Falarei da dupla mais adiante. Quando cheguei à F&F já acumulara alguma experiência em jornais. Trabalhei em dois jornais de imprensa estudantil, um deles chamado Vanguarda, no fim dos anos 60, no Ceará. Era jornal daqueles sem recursos em que apurávamos, escrevíamos, diagramávamos, levávamos à gráfica e distribuíamos. Já no Rio, em 1968, o tempo era de jornais mimeografados e circulação clandestina, de mão em mão, distribuídos na Avenida Pasteur, onde ficavam a Faculdade de Medicina e outras unidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nas imediações da PUC, na Gávea e na entrada de colégios na Zona Sul. A “redação” era na Rua Farani, onde varávamos noites entre a pressa de rodar o jornal na máquina Facit a álcool e o medo de que a polícia estourasse o local. Mas valia a pena. Fui preso por alguns dias em junho de 1968, depois de uma passeata especialmente violenta, uma escalada que começara em março, com o assassinato do estudante Edson Luís, no Calabouço. Naquele dia, na rua México, perto de onde eu estudava no cursinho pré-vestibular Hélio Alonso, um PM fora morto, atingindo por um objeto pesado lançado do alto de um edifício. Por causa disso, a repressão pegava mais pesado ainda. No fim daquele dia, eu estava “hospedado” no quartel do batalhão de choque Marechal Caetano de Faria. Eu e mais uns 300 estudantes. A “cela” coletiva era o galpão de chão de terra onde os cavalos do regimento eram adestrados. No interrogatório, complicou-se um pouco a minha situação. Por vários motivos: havia sido secretário da União de Estudantes do Crato e, por isso, participado de alguns congressos estudantis secundaristas realizados em cidades do nordeste; estava com duas carteiras de estudante, uma do Ceará e outra do Rio. Minha carteira de identidade era de Salvador, onde havia estudado em 1964/1965. Resultado: não passei na “triagem” e fui parar no DOPS, na Polícia Central. Fui considerado um “elemento itinerante”. A maior parte dos estudantes detidos foi liberada em dois dias. Eu, o “itinerante”, fiquei de molho um pouco mais. Peixe miúdo, sem ficha pregressa, fui liberado e alertado. “Na próxima vai prá vala, comunista”, era o bordão que nos acompanhava até à porta do velho prédio da Rua da Relação. Uma modesta contribuição a quem um dia queira investigar o papel da grande imprensa em apoio à ditadura já que a face mais difundida é a de que foram vítimas da censura: dias depois da prisão daquela três centenas de estudantes, a maioria ainda sem maior atividade em movimentos políticos, os jornais divulgaram a lista completa com os nomes e endereços de cada um. Inclusive, o meu. Poucos dias depois, fui “visitado” em meu endereço na Urca. Um ano depois, em férias no Crato, recebi outra “visita”: a de um capitão do Exército que disse investigar as “verdadeiras razões” daquela minha ida ao interior do Ceará. Expliquei que estava em férias, na casa dos meus pais, e ele aparentemente se deu por satisfeito. Durante a conversa, exibia um papel. Volta e meia baixava os olhos e consultava a folha. Além de um cartão que parecia uma ficha, o que ele lia era a cópia xerox de um jornal com a relação – meu nome assinalado – dos estudantes presos. Estava lá até o número da viatura da PM que me levara ao Caetano de Farias. Involuntariamente ou não, em uma época em que não havia intercâmbio de dados de computadores entre os chamados órgãos de segurança, os jornais ajudavam a engordar fichas de “subversivos” por esse Brasil afora. No ano seguinte, entrei para Escola de Comunicação da UFRJ. O movimento estudantil caminhava para a desarticulação. Os amigos ou conhecidos pareciam estar divididos entre presos, mortos, exilados, apáticos ou desbundados. A barra estava pesando. Uma pequena gráfica na rua Real Grandeza, em Botafogo, onde uma vez nos reunimos para redigir panfletos contra o Ministério da Educação, acho que denunciando acordos com o USAID, foi estourada pela polícia sob a acusação de que era um “aparelho” do PCB. A “operação”, na verdade um fuzilamento, não deixou sobreviventes. Já na faculdade, fui com um grupo de colegas ao Correio da Manhã, jornal que ficava perto, na rua Gomes Freire – a escola era na Praça da República esquina de Visconde do Rio Branco -, tentar oferecer à direção do jornal, então já combalido, o projeto de um tablóide a ser editado pelos alunos da ECO. Para nós seria um jornal-laboratório, para o Correio um encarte cultural e de comportamento a circular aos domingos. A idéia foi bem recebida, mas logo descoberta pela direção da ECO, que desautorizou qualquer publicação que levasse o nome da escola ou fosse produzida por seus alunos. O projeto gorou. Os anos seguintes foram de fuga no rabo de qualquer foguete. Tempo de deixar o tempo passar. De explorar as possibilidades da química. Em fins de 1970, eu estagiava na extinta TV Rio. Fiz rádio-escuta, uma função inimaginável hoje em tempos de internet. Chegava à redação às 14h, ainda no antigo prédio do Cassino Atlântico, no Porto 6, em Copacabana. Ligava o rádio, gravava os noticiários da Rádio Globo e Jornal do Brasil, decupava a fita e passava os textos para os editores. Pouco depois ganhei outras tarefas, apurava e redigia algumas notícias. A TV Rio, que já vivera melhores dias, estava a caminho da falência. Pouco depois se transferiria para São Cristóvão. Não havia carros para levar repórteres à rua, chegavam algumas imagens de agências internacionais, havia alguma coisa de atualidade gravada em auricom mas a maior parte das cenas que iam ao ar imagens era de arquivo.Eu me lembro que uma das minhas tarefas era pesquisar imagens nas prateleiras empoeiradas de um quartinho da emissora. Uma zona monumental. Filmes de 16mm espalhados em estantes e gavetões, com precária identificação de conteúdo. A coisa funcionava mais ou menos assim: se havia uma enchente no Paraná, eu pesquisava imagens de cheias nem que fosse na Índia. Selecionava takes de câmera fechada que mostravam as águas rolando e pronto. Aquilo ilustrava a notícia da chuvarada no interior do Paraná. Isso valia para guerras, tiroteios, naufrágios, pronunciamentos do papa, de Nixon, da rainha da Inglaterra. Na falta de imagem de um vulcão em erupção, acho que a notícia era sobre o vulcão Etna na Sicília, foi usada uma vez a única referência sobre o assunto que o tal arquivo de imagem dispunha: um pedacinho do filme Os Últimos Dias de Pompéia que mostrava o Vesúvio fumegando. Só que o editor de imagem bobeou e deixou, no canto da tela, fugindo como um louco das lavas, um nativo em roupas de época. Só restou à redação cair na gargalhada. Mas àquela altura a qualidade da imagem e a audiência da TV Rio eram tão precárias que o apavorado representante do império romano que foi alçado à honra de ilustrar um noticiário do século 20 deve ter passado desapercebido. Humor à parte, todos torceram mesmo por isso. Além desse inacreditável épico, me restaram poucas lembranças da TV Rio, emissora que no começo dos anos 60 havia sido líder de audiência. Grandes ídolos, os principais nomes da política na época, esportistas e humoristas cruzaram aqueles sombrios corredores da emissora. Os mais antigos contavam muitas histórias do período áureo da estação. Uma delas, a mais repetida, era no mínimo curiosa. Falava de uma cantora da Jovem Guarda, de belas pernas, que havia sido currada, expressão da época, em pleno banheiro dos camarins, por um lutador de telecatch. Contavam que a mocinha vestia uma provocante minissaia e o lutador, de capa, máscara de tudo, mandou ver. “Esse o camarim onde o fulano traçou a fulaninha. Encostou ela na pia e só parou quando chegou a vez dele subir ao ringue”, dizia um velho contra-regra, como se fosse um guia turístico, a quem pudesse interessar. Eu, que recebia por vale um dinheiro que dava para o transporte, lanche e pouco mais, desisti da TV Rio quando a emissora mudou-se para São Cristóvão. Achei que não valia mais a pena e sai para outra. A outra foi responder a um anúncio pedindo redatores para uma agência de propaganda. Mandei um precário currículo e, dias depois, para minha surpresa, fui convocado para uma entrevista. A agência era pequena, chamava-se Publicidade Certa, de Sieiro Neto e Ney Machado, dois jornalistas que se formaram na área de espetáculos das noites cariocas. Ambos viveram os anos dourados do Rio, época dos grandes teatros de revista, de show milionários, ricas temporadas teatrais. Especializaram-se no ramo e montaram uma bem sucedida agência voltada para o segmento de espetáculos, promoções, patrocínios e divulgação de artistas. Foram, de fato, pioneiros em um ramo hoje bem disputado. Virei redator publicitário mas, em pouco tempo, me voltei para um setor da agência para o qual tinha mais vocação e afinidade: o de imprensa. A Certa adquiria, na época, páginas dos segundos cadernos dos jornais Tribuna da Imprensa, Diário de Notícia e O Jornal. Metade do espaço era ocupado por pequenos anúncios de casas de espetáculo, teatros e boates, os então chamados “tijolinhos”. A metade era editorial: a Certa produzia entrevistas com artistas e matérias sobre os espetáculos ou show em cartaz. O material era diagramado na agência e entregue ao jornal que apenas imprimia a página. Uma boa idéia. Funcionava, me dava experiência em edição e um bom salário. Não tinha mais do que 23 anos e me dispus a dobrar serviço e trabalhar à noite em uma atividade também ligada à Certa. Os contatos que vendiam anúncios eram obrigados a fazer o atendimento aos clientes. Isso os obrigava a passar nos teatros ou boates uma ou duas vezes por semana para saber se o cliente estava satisfeito, se havia alguma mudança de horários dos espetáculos, de elenco etc. Era um trabalho duplo: de atualização dos “tijolinhos” e de relações-públicas. Os contatos me propuseram que fizesse esse atendimento dos clientes já conquistados. Com isso, eles poderiam partir para conquistar novos anunciantes. Em troca, os contatos me repassariam parte da comissão dos anúncios.Topei, trabalhei pra burro, entrava na agência às 9h saia às 18h, ia para casa, tomava banho, jantava, e saía para a noite por volta de 23h. Rodava nas boates e teatros de Copacabana, Botafogo, Cinelândia e Praça Mauá. Mais do que dobrei meu salário em relação ao que ganhava como redator. E, como subproduto, fiquei amigo de muitas das meninas da noite carioca. Eu devia ser um dos poucos jornalistas da época que tinha obrigação de freqüentar regularmente points como a Erotika, a Hollyday e a New Munique, em Copacabana, e a Cowboy, na Praça Mauá, ganhava dinheiro com isso e benefícios correlatos. Não posso me queixar. O trabalho não era só em inferninhos, cobri shows e entrevistei Roberto Carlos na época em que apresentava o espetáculo Além da Velocidade, no Canecão, show de Eliana Pitman, Bibi Ferreira, Paulo Gracindo e Clara Nunes, Alice Cooper, no Maracanazinho, Miele na Sucata, Agildo Ribeiro também na antiga boate de Ricardo Amaral, um espetáculo musical encenado na boate Cowboy, paródia do filme Cabaret e que virou notícia e atraiu à Praça Mauá um público da Zona Sul e muitos outros. A expressão não era usada na época, mas o show da Cowboy virou cult. Mas só agüentei essa batida de trabalhar dia e noite por uns dois anos e meio. Não podia pedir demissão e dar um salto sem rede e, em fins de 1974, comecei a procurar um novo emprego. Só tinha a apresentar a modesta bagagem relatada acima, um currículo profissional que cabia em meia folha, excluídas obviamente as não-apropriadas experiências em imprensa estudantil e a pragmática cobertura jornalística dos “inferninhos” cariocas. Falei com uns e outros mas a possibilidade que apareceu veio casualmente através de um primo e bom amigo, Humberto Barreto, que conhecia Oscar Bloch. Com a dica do Humberto fui lá falar com o Oscar. Depois de alguns minutos de conversa sobre o que eu fazia, ele me mandou falar com Arnaldo Niskier, que era o diretor-geral das revistas. Expliquei para Arnaldo que eu estava empregado, disse-lhe quanto ganhava, mas que gostaria de trabalhar em revista. Arnaldo ficou de ver se havia alguma vaga com um salário equivalente ao que eu ganhava então. Alguns dias depois, fui chamado, Arnaldo me falou que a Bloch havia adquirido os direitos da revista People americana, já um fenômeno de circulação nos Estados Unidos, e faria uma reformulação da Fatos & Fotos que incorporaria um Gente ao logotipo e passaria por uma completa mudança gráfica e editorial. Estavam aumentando a equipe de repórteres e foi nessa que eu me encaixei. O Arnaldo pediu ao José Carlos de Jesus, outro bom amigo desde aquela época, que me levasse à redação. Era janeiro. A Fatos & Fotos Gente só seria lançada em abril. A revista ainda era editada nos moldes antigos e comecei a trabalhar imediatamente. O diretor era o Moyses Fuks, hoje é professor da UniverCidade. A redação tinha feras como João Máximo, Aparício Pires, Pedrosa Filho. O diretor de arte era o Ezio Speranza, um italiano boa praça, que também trabalhava no JB. Lá, dois anos antes, o Ézio desenhara a mais famosa “primeira página” da imprensa brasileira. Para driblar a censura e noticiar a queda e morte de Salvador Allende e o começo da odiosa e sanguinária ditadura chilena, ele dispensou as fotos proibidas e estampou apenas o texto do repórter Humberto Vasconcelos. Um recurso que causou impacto e deu à notícia toda a dramaticidade que merecia.Foi levando a bagagem descrita acima – na verdade uma modesta mochila – que me apresentei para o trabalho na Bloch no dia 15 de janeiro de 1975. Os primeiros dias na F&F foram de observação, acho. E também acho que a avaliação era de parte a parte. Não conhecia ninguém ali e ninguém me conhecia. Fiz algumas poucas e desimportantes matérias até que um mês depois dei a sorte de principiante. Ainda preocupado em não deixar furo, era um dos primeiros a chegar à redação. Um dia, mal entrei na sala, tocou o telefone. Atendi e ouvi de um dos motoristas que o rádio anunciara que o Lúcio Flávio Villar Lírio, o bandido mais famoso da época, havia sido assassinado na prisão. Dei a notícia ao Pedrosa Filho, chefe de reportagem, que chegava naquele momento. Senti que o Pedrosa hesitou em me passar a pauta. Com razão: como poderia ele, que quase não me conhecida, me jogar nas mãos aquela que seria a mais importante matéria da semana? Pedrosa tratou de ligar logo para o repórter Luiz Carlos de Assis pedindo que fosse de casa direto para o presídio da Frei Caneca. Fiquei ali, na minha. Logo em seguida, Pedrosa foi orientado a mandar alguém também para a delegacia, na rua do Matosinho, que seria o distrito responsável pela investigação. Olhou para os lados, nenhum outro repórter havia chegado, e naquele de não-tem-tu-vai-tu-mesmo me mandou para o distrito. Embarquei na velha Rural Willys da reportagem e me mandei para o DP com o fotógrafo Elpídio Martins. Fui direto na sala do delegado, ainda não havia grande burburinho de jornalistas. O delegado limitou-se a dizer que o “assassino confesso” já estava a caminho da delegacia. Logo depois chegou o suspeito. Pude conversar com ele. Era o detento Mário Pedro da Silva, que tinha sido transferido do presídio da Ilha dois dias antes. Mário admitiu que não tinha nenhuma divergência com o Lúcio Flávio. Vagamente falou que o matara porque fora humilhado por ele. Parecia nítido que -- é comum nessas situações -, estava apenas assumindo a culpa. No pulso esquerdo ele usava um relógio de mostrador preto e grande, desproporcional. O delegado disse que era o relógio da vítima. No meio da entrevista, ouço um burburinho na porta da delegacia. Era o rabecão, a caminho do IML, trazendo o corpo de Lúcio Flávio. O veículo bem que podia ter ido direto para o IML, mas Lúcio era um troféu para a polícia carioca e precisava ser exibido. A gaveta foi aberta e os fotógrafos puderam lançar flashes à vontade sobre o bandido-celebridade. Dali, sem que ninguém me mandasse, fui com o fotógrafo para o IML e lá entrevistei as irmãs do bandido. Soube que o Luiz Carlos não conseguira entrar no presídio. A matéria inteira estava caindo na minha mão. Não só pude fazer uma apuração completa como fiz contato com Dona Zuma, mãe de Lúcio, ganhei a confiança dela e, como suíte, na semana seguinte, consegui que me recebesse em casa, em um conjunto residencial em Benfica, para uma entrevista exclusiva. Voltei com algo melhor. Dona Zuma me fez uma revelação: nos últimos meses, Lúcio Flávio pintava quadros a óleo na prisão e escrevia poemas. Com uma das irmãs dele consegui autorização para reproduzir os quadros. Publicamos uma matéria exclusiva algumas semanas depois. Foi, afinal, o meu cartão de visitas. Tenho guardadas até hoje essas duas edições, de 10 de fevereiro e de 25 de março de 1975. Ambas deram janela e chamadas de capa. Sorte de principiante. Naquela semana, a morte de Lúcio Flávio dividia espaço com outras notícias igualmente palpitantes. O senador Nelson Carneiro anunciava que o texto do projeto da emenda constitucional que instituía o divórcio no Brasil estava pronto. A novelista Janete Clair, o maestro Tom Jobim, as atrizes Tereza Rachel e Glória Menezes,a socialite Yonita Guinle, a cantora Nara Leão, entre outros, davam declarações em apoio ao divórcio. A Banda de Ipanema desfilava comemorando 11 anos de existência mas o título da matéria da F&F já apontava para a decadência: “Essa Banda já não é mais a mesma”. Mas estavam lá ainda Ferdy Carneiro, Hugo Bidet, Albino Pinheiro e as gêmeas e “madrinhas espirituais” da banda Dona Laura e Dona Delia. O piloto José Carlos Pace ganhava o GP Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, e a F&F o apontava como “O Novo Ídolo”. Luís Melodia classificava a música “Ébano” no festival Abertura, que lotava o Teatro Municipal de São Paulo. A revista tinha poucos anúncios mas se você quer saber o que se consumia naquela semana, anote aí: na contracapa o Old Eight prometia noites alegres e manhãs felizes – “O bom whisky você conhece no dia seguinte”. Em um tempo em que as máquinas fotográficas digitais não existiam nem na ficção científica de um Ray Bradbury, o quente era a câmera Polaroid – “A foto que aparece na hora”. Uma página inteira anunciava: “O acontecimento musical do ano. Sérgio Mendes & Brasil 77 no Teatro Adolpho Bloch.Uma realização Manchete”. A temporada ia de 5 a16 de março com ingressos a CR$50,00. Aí estão o tempo e o vento daqueles dias. Quando digo que a época da F&F foi inesquecível, quero dizer que também foi divertida. Extremamente. Na página dupla central a revista publicava, invariavelmente, uma mulher bonita, às vezes famosa mas geralmente ainda a caminho da fama. Fui encarregado muitas vezes de entrevistar as modelos-manequins-atrizes que posavam, sensuais, para a tal seção da revista. Entrevistar é modo de dizer. Os textos era curtos e estavam ali obviamente apenas para complementar as fotos. Mas a tal página dupla fazia sucesso. Nos “inferninhos” de Copacabana, dava ibope falar – e fazia questão de divulgar isso -, que era da F&F. Logo aparecia uma stripper pedindo para sair nas páginas da revista. De tanto ouvir o pedido, eu o Pedrosa Filho resolvemos fazer uma sessão fotográfica de testes com algumas meninas disponíveis. O apartamento do Pedrosa Filho, em um prédio colado ao antigo Cine Ricamar, virou, certa vez, um “estúdio’. Produzimos lá – e os contatos em preto-e-branco devem estar em algum lugar entre as milhares de fotos que compõe o fabuloso arquivo fotográfico da Bloch – “ensaios” memoráveis. Memoráveis para nós, claro. Infelizmente para as retratadas estavam destinados a jamais serem publicados. A culpa, diríamos depois às meninas, era sempre do diretor da revista, que não aprovava o teste. O curioso é que pelo menos uma colega, ao saber dessa nossa atividade paralela, dispôs-se a se deixar fotografar. Nos surpreendemos, mas topamos. E a moça lá se foi para o “estúdio”. Entre uma e outra vodca, tirou a saia e, de collant preto, dançou na sala ao som sei lá porque de Mireille Mathieu. Se a coreografia deixou a desejar, a menina tinha atributos que superavam em muitos seus dotes de corista da Broadway. Do nome da cantora que fez a trilha sonora da performance tenho quase certeza, o que já é muito; o título da canção apagou-se; a cena e o nome da colega, que pouco depois se casou e deixou o jornalismo, estão na memória lá vão ficar.Mas outros fatos podem e devem ser liberados do HD pessoal. Como uma das prisões do Carlos Heitor Cony. Digo uma, porque o Cony colecionava prisões desde 1964, quando foi detido durante um protesto contra o general Castello Branco na frente do hotel Glória, e, depois, já de volta do exílio em Cuba, nos tempos da caça às bruxas deflagrada pelo AI-5. Mas a “prisão” que aqui relato tem motivos digamos menos nobres. O episódio serve para ilustrar também para os jovens jornalistas sobre os meios tecnológicos de que os repórteres dispunham então. Ocorrera em Itaperuna, no interior do Estado do Rio, um crime bárbaro – o seqüestro e morte de um menino, o que comovia a cidade e, de resto, o país. As primeiras investigações apontavam que o criminoso era um tio da criança. A F&F mandou para Itaperuna um repórter e um fotógrafo. A dupla apurou a história, fotografou os personagens envolvidos e cobriu o velório e o enterro do menino. Como deveriam que permanecer mais alguns dias na cidade para acompanhar o desenrolar das investigações, eles tiveram que mandar de ônibus, a tempo do fechamento da edição, os filmes preto e branco não-revelados. O laboratório da Bloch processou o material e despachou os contatos para a redação. Aí começou o problema. Um dos redatores, com muita dificuldade, fez uma ligação interurbana para Itaperuna. Falando assim parece fácil, mas telefone na época, anos 70, era mais problema do que solução. Entre ruídos, queda de linhas e estática, o redator ia descrevendo as fotos e, de Itaperuna, o fotógrafo e o repórter se alternavam na identificação de cada fotograma. Método precário, mas o único e o mais rápido. Óbvio, tinha tudo para não dar certo. Depois de paginada a matéria, o diretor Justino Martins me pediu que copidescasse o texto e fizesse as legendas. No verso das cópias fotográficas estavam identificados os parentes da vítima. Em uma delas, separada, estava o “boneco” daquele que seria o assassino. Um homem de feições comuns, nada lombrosianas. Eu redigia as legendas quando percebi que o “assassino” era o mesmo homem que estava no velório, abraçado à mãe do menino. Levei o lay-out à mesa do Justino e chamei atenção para o detalhe. Argumentei que se aquele era o assassino, ele estava também no velório, contrito e choroso. Justino vibrou. Com o sotaque de gaúcho de Cruz Alta que jamais perdera em tantos anos de Rio de Janeiro, ele falou uma frase que gostava de repetir, título de um filme underground (mais um saudoso clichê dos 70) do Julio Bressane. “Che, é isso, ‘matou a família e foi ao cinema’. Vai lá, che, e faz uma legenda dramática. Voltei para a máquina, umas das Remington marrom da redação, e mandei ver uma legenda onde o mínimo que destacava era a frieza e o extremo cinismo do assassino fulano de tal que trucidou a criança, na verdade o próprio sobrinho, e ainda teve o desplante de ir ao velório consolar a família. Um monstro. Na época, a revista Manchete, uma espécie de irmã mas forte e implacável concorrente da F&F, costumava designar o Cony para a cobertura de crimes de repercussão. E lá se foi ele para Itaperuna. Quando chegou à cidade, a edição da F&F com a tenebrosa história, que ficou conhecida como O Crime do Zé do Rádio, já estava nas bancas. Ou deveria estar, mas um juiz local mandara apreender cedo todo o reparte de revistas. Sem saber de nada, Cony, charuto cubano à mão, desce da Rural Willys da Manchete. É logo cercado por uma pequena multidão como se fosse uma celebridade da TV. Por um instante, deve ter imaginado justamente que andava alto o prestígio da Manchete na pequena Itaperuna. Mas só por um momento. Logo se abriu uma ala no populacho e surgiram um delegado e dois meganhas. “O senhor é da Manchete?”, perguntou a “autoridade”. “Perfeitamente, sou da Manchete”, respondeu Cony. “Pois me acompanhe à delegacia, O senhor está detido para averiguações”. Cony não entendeu nada, nem a raqzão dos apupos que deixou para trás ao acompanhar a brava força-tarefa da polícia de Itaperuna. Só na delegacia, soube dos motivos inglórios da sua breve detenção. A F&F errara na identificação da foto e chamava de assassino ninguém menos do que o sofrido pai do menino. O verdadeiro criminoso, um doente mental, era de fato tio da criança mas estava foragido e nem passou perto do velório. A figura a quem a revista dera o título de cruel assassino era uma das pessoas mais queridas de Itaperuna. “Gente muito boa. Um cidadão querido por todos e que já foi até xingado nas ruas por pessoas que acreditaram nas mentiras da sua revista”, repetia o delegado, indignado. Lá fora, a polícia tentava impedir que o povo quebrasse os vidros do carro de reportagem da Manchete. Se as linhas telefônicas eram as culpadas, foi Cony o alvo da indignação do delegado. Na semana seguinte, por ordem judicial, a F&F publicou uma matéria com o perfil do pai do menino assassinado. É só consultar a coleção: o “assassino” de uma edição virou na revista seguinte um dos pilares da sociedade itaperunese.Tenho ótimas recordações do Justino Martins. Eu trabalhei com ele em um período especial da sua vida na Bloch. Afastado da Manchete em uma das crises da revista, Justino foi deslocado por Adolpho Bloch para o setor de “projetos especiais”, em outras palavras, a “geladeira” da empresa. Pouco tempo depois desse ‘congelamento” involuntário, Justino foi convocado para assumir a direção da F&F. Além de um grande editor de revistas ilustradas, era um contador de histórias. Relatava passagens dos festivais de Cannes, a que compareceu por anos seguidos, ou dos tempos pós-guerra em que foi voluntário na reconstrução de estradas de ferro na antiga Iugoslávia atendendo à convocação do Marechal Tito, o herói da guerra que se tornou um ídolo da esquerda, principalmente de Paris, onde Justino morava na época. O comunismo acabou, a Iugoslávia foi fatiada, mas em algum lugar da malha ferroviária do Leste europeu deve haver alguns dormentes cravados por Justino. Por aqui, ele cravou outras ferramentas. Havia uma lenda de que o caminho das estrelas para a capa da Manchete passava pela cama do Justino. Podia até não ser a regra, e não necessariamente nessa ordem, mas o gaúcho tinha mesmo um invejável caderninho de conquistas. Era uma grande figura. Acostumado a trabalhar com grandes nomes do jornalismo, Justino foi parar na F&F cercado, então, de muitos jovens repórteres e redatores, a maioria em começo de carreira. Parecia não se incomodar com isso. Entusiasmava-se quando conseguíamos um furo, vibrava quando dávamos algo antes ou melhor do que a revista principal da casa, a Manchete. Às vezes, esse entusiasmo causava problemas. Cheguei a entrar numa fria por causa dessa, digamos, vibração com a notícia. Naqueles dias, os jornais só falavam do acordo nuclear Brasil-Alemanha. Vivíamos os tempos da ditadura, Geisel era o general da vez, e havia um ufanismo militar na badalação daquele tal acordo. Fui designado para fazer uma matéria “didática” sobre o processamento do urânio, para que servia, enfim, traduzir em linguagem acessível aquela polêmica política com fundamentos técnicos. Depois de muita insistência, consegui que um dos diretores da estatal Nuclebrás me desse uma entrevista. O cara concordou. Fui à sede da empresa, na rua Menna Barreto, em Botafogo, fiz a entrevista. O engenheiro que, salvo engano chamava-se John Forman, deixou-se fotografar e voltei para a redação. Com no dia seguinte, ia viajar para Cachoeiro do Itapemirim, onde faria um perfil de Camilo Colla, o dono da Itapemirim, um empresário em ascensão cuja trajetória despertava curiosidade, tratei logo de escrever o texto e deixá-lo pronto. Pouco antes de sair da redação, recebo um telefone do entrevistado pedindo que não publicasse a foto, que podia dar a matéria mas me pedia que não a editasse em forma de entrevista etc. Usasse as informações sem que fossem atribuídas diretamente a ele. Enfim, superiores do engenheiro o haviam criticado por falar sobre um tema politicamente complicado. Justino gostou da matéria e, claro, não abria mão da publicação. Passei apenas o pedido do entrevistado, deixei que a direção da revista decidisse o que fazer e viajei. Dias depois, de volta, veja a F&F no aeroporto de Vitória. Folheei a revista e tomei um susto. Justino publicara a matéria, até aí tudo bem. Mas mandou um título chamativo do tipo “Engenheiro da Nuclebrás revela a história secreta do urânio...” Em parte, atendeu ao pedido de não publicação da foto. Em parte. E a emenda ficou pior. Em página inteira estava lá a foto do engenheiro. Aparecia o contorno do rosto do cidadão, orelhas, a barba, mas olhos, sobrancelhas, boca, nariz do sujeito foram apagados – toscamente, diga-se, já que não havia photoshop na época. O coitado do engenheiro da Nuclebrás ganhara ares de espião da Guerra Fria. Claro que deu crise, com direto a pressões de governo. Sobrou para mim. Quando chego ao hall do prédio da Bloch, logo sou comunicado que devo me apresentar direto a Adolpho Bloch. Até então, não havia tido contato com Adolpho, de quem anos depois me aproximei em função do trabalho na revista Manchete que ficava ao lado da sala dele e a quem aprendi a admirar. Direto, como costumava ser, Adolpho me disse que eu estava demitido. Dei meia volta, fui para a redação da F&F me despedir do pessoal. Aprendi, desde a primeira carteira de trabalho assinada, que relação com empresa é assim. E o melhor é sempre trabalhar um dia com se no outro já não se estivesse lá. Mal entrei na sala, fui chamado por Murilo Mello Filho, outro bom amigo e colega. Murilo já entrara na situação como “bombeiro”. Sabia do que tinha acontecido e que eu não participara da edição final da matéria. Minutos depois, Murilo me avisou que Adolpho queria conversar de novo comigo. Fui lá. Adolpho, que não tinha mesa própria e costumava se sentar à frente da mesa da secretária, levantou-se, me cumprimentou e disse apenas: “Vai lá, vai trabalhar. A culpa foi dele. Como é que ela bota o homem parecendo um fedayin?”, disse. O “ele” era o Justino, o fedayin foi a exata definição que ele encontrou para a foto do barbudo sem rosto, com inegável pinta de terrorista, que ilustrava a “história secreta”. Em outro episódio, Justino e a F&F provocaram a ira do então poderoso ministro da Justiça Armando Falcão. Geraldo Lopes, um competente repórter de polícia, estava cobrindo um caso intrincado. Um policial federal e um bandido – que deveria estar preso na Frei Caneca -, trocaram tiros no estacionamento de um hotel na Av. Niemeyer. O duelo vitimou a ambos. O estranho episódio, o encontro de um agente federal e de um bandido que não era oficialmente um fugitivo mas que inexplicavelmente estava fora da sua cela, repercutiu na imprensa. A polícia divulgou a versão de que o policial dera voz de prisão ao bandido, que reagiu. A apuração do Geraldo não foi muito além, policias e informantes se fecharam, mas ele levantou informações de que os dois envolvidos no tiroteio estavam na verdade conversando quando se desentenderam e sacaram as respectivas armas. O repórter não conseguiu confirmar essa versão e apenas discorria sobre a hipótese no texto, com declarações em off. No dia seguinte, com a matéria já editada, Justino entra na redação, nos chama, a mim e ao Geraldo, e falando baixo – outra das suas características -, diz que afinal descobrira toda a verdade sobre os motivos do tiroteio. “O bandido era um assaltante que “trabalhava” para o agente federal. Haviam praticado muitos golpes. O policial providenciava para que o bandido saísse da cadeia, assaltasse bancos, e voltasse para a cela, sempre acima de qualquer suspeita. Os dois se desentenderam na hora de dividir o dinheiro. Daí o duelo”, contou Justino, com a mais absoluta segurança, sem dar maiores detalhes de como obtivera a informação. Apenas disse que a caminho de casa – ele morava no Joá -, passara no hotel para conversar com um amigo. Dito isso, foi ele mesmo escrever um novo lead para a matéria. Achamos ótimo, a F&F seria a única a publicar a verdade sobre o estranho duelo. A reportagem, com certeza, iria repercutir. De fato, repercutiu mais forte na sala do Adolpho Bloch. Poucas horas depois de a revista chegar às bancos, fomos, o Justino, diretor e eu, chefe de redação, convocados à sala do velho. Adolpho espumava. Acabara de receber um telefonema do próprio Armando Falcão. Quem ouviu o diálogo do lado de cá da linha, conta que o prepotente Falcão praticamente não deixou o Adolpho falar. Depois soubemos que fez ameaças e disse que não se responsabilizava pela reação dos colegas do agente federal morto. Na tarde daquele mesmo dia, Justino e Geraldo Lopes, que assinava a matéria, foram convocados para comparecer à Polícia Federal. Era pura intimidação. Se a versão era verdadeira ou não, jamais se soube. O caso sumiu dos grandes jornais. Mas a PF ou o Ministério da Justiça exigiram que, na semana seguinte, a F&F se retratasse e publicasse uma matéria sobre o agente desmentindo a versão de que ele era cúmplice do bandido. Mais: um policial levou à redação uma biografia do colega mostrando-o como um exemplo para a sociedade. Ainda tentamos pôr mais dois repórteres, além do Geraldo, para ir às ruas, procurar outras testemunhas, levantar a vida pregressa tanto do agente quanto do bandido e buscar a confirmação da história. Algo que nos permitisse sustentar a versão publicada. Em vão. Está lá, na coleção da F&F. Uma semana depois de dizer que o agente era bandido, a revista se retratou publicando um perfil do policial assassinado. Repetia-se a “síndrome de Itaperuna” contada acima. Anos mais tarde, quando já era possível rir daquele episódio, Justino continuava firme na versão polêmica: “Aquilo foi briga de cúmplice, che”. Bons tempos.Outro diretor com quem trabalhei, com passagem marcante pela F&F foi o Cony. Acho que nenhum outro editor nos deu tanta liberdade para escrever. Foi no começo dos anos 80. A ditadura já dava sinais de que não se segurava nos coturnos. Depois da campanha pela anistia e movimento pelas diretas-já apontava no horizonte. A F&F não estava bem. Circulação caindo, poucos anúncios, parcos recursos. As atenções e os investimentos da Bloch se voltavam para a TV Manchete. Cony criou uma seção chamada Sete Dias e deu espaço para que eu e o Nei Bianchi assinássemos artigos. Abrindo a revista, comentando os principais acontecimentos da semana. Beleza. Gostamos da idéia, falamos bem de uns poucos mal de muitos e incomodamos outros tantos “amigos” da Bloch. Toda semana alguém reclamava. Cony matava no peito e não dava bola para o adversário. Até que um dia entra o Adolpho na sala com uma carta na mão. Sentou-se à frente da mesa do Cony, me chamou, e foi logo dizendo o seu bordão, em tom: “E como é que o senhor faz isso comigo”. E me pediu que lesse a carta em voz alta. Não podíamos rir, jamais desrespeitaríamos o Adolpho que falava sério. Mas que dava vontade de rir, dava. O tom da carta era dramático. Um empresário do setor de materiais de construção queixava-se de que a F&F o ridicularizara perante sua família e os funcionários da sua fábrica. Logo entendi a razão da reclamação. O Rio, na época, em função da então cotação do dólar muito favorável ao turista americano, estava cheio de gringos. E gringo remediado. Com relativamente pouco dinheiro, um americano de classe média baixa podia se dar ao luxo de adquirir um pacote turístico, passar uma semana no Rio, hospedar-se em um hotel cinco estrelas, e tirar uma onda de rico em férias nos trópicos. Copacabana estava cheia desses tipos. E naquela semana, o artigo da seção Sete Dias foi exatamente sobre o tal fenômeno. Sob o título Gari em NY, Rei no Rio, a crônica ironizava sobre um sujeito fictício que atrasava o pagamento da hipoteca, dava um tempo no duro ofício de recolher o lixo do Bronx em troca de uma temporada nas terras cariocas com direito a mulatas, caipirinha, sol e samba. Até aí, tudo bem. O problema foi na hora de ilustrar a página. O saudoso e querido amigo Evaldo Vasconcelos, o boa-praça secretário de redação da F&F foi, a nosso pedido, buscar no arquivo fotos de turistas típicos. Havia centenas de cartelas de plástico com fotos 6x6 que mostravam visitantes em várias épocas. Todas, claro, não-identificadas. Nos fixamos em uma que mostrava um sujeito que mais turista típico não podia ser. Um cidadão cinqüentão, de tênis, bermuda estampada, meias branquíssimas no meio das canelas idem, boné. Só faltava estar escrito na camiseta: “Mim ser de Long Island”. Botamos lá, no meio da página, com destaque, o “gari” que reinava no Rio e comia mulatas adoidado. Foi mal: o “gari” era um rico empresário, judeu como o Adolpho, amigo da família Bloch e ainda por cima anunciante eventual em algumas publicações da casa. “Isso não se faz”, repetia Adolpho enquanto eu, a pedido dele, lia a carta. O empresário, a vítima do Sete Dias, pegava pesado na reclamação. Apelava para suas origens, colocava-se como vítima de preconceito, dizia que ao chegar à fábrica tivera o desprazer de ver colada a página da revista em uma parede. Sentira-se ridicularizado, humilhado. Mas apesar disso não pedia retratação. Na carta, pessoal, dirigida ao Adolpho, dizia-se tão somente decepcionado. Argumentamos que não tínhamos como saber, para nós, o “gari” da foto era um turista. Adolpho ainda pegou o telefone, ligou para o arquivo e disse que, a partir daquele dia, todas as fotos, inclusive as antigas, tinham que ser identificadas. Tarefa àquela altura impossível e que jamais pôde ser realizada. Com o tempo, a gafe caiu no esquecimento. A esse relato, um típico folhetim de redação, não podia faltar um mistério. Pois tenho um. Morre Juscelino Kubitschek no famoso acidente de carro da Via Dutra. Domingo, começo da noite, João Luiz Albuquerque, então chefe de reportagem da Manchete, convoca todos os repórteres para começarem a trabalhar imediatamente. A notícia acabava de chegar. Estavam previstas edições especiais da Manchete da Fatos e Fotos. Cheguei à redação, ouvi as instruções e logo fui às ruas ouvir políticos, gente que trabalhou com JK e alguns dos seus melhores amigos, como Oscar Niemeyer. Creio que já passava da meia-noite quando voltei ao Russell. Era madrugada de 23 de agosto de l976. Havia uma agitação no hall do prédio. Tudo estava sendo preparado para o velório de JK e do seu motorista, Geraldo Ribeiro, que também morreu ao volante do Opala de JK. Mas logo ouvi que tinha um problema no meio do caminho. Niomar Muniz Sodré queria que o velório fosse do MAM, instituição que presidia. Briga de foice na madrugada pela honra de sediar as exéquias de JK. A Manchete tinha um repórter que, em campo, era um trator. Era o Tarlis Batista, que tinha uma característica: era “entrão” e, pelo seu temperamento, desempenhava as missões mais difíceis. Se o acesso a determinado evento era proibido, melhor escalar o Tarlis. Ele dava um jeito de furar esquemas e resistências. Era brigão também. Claro que o Tarlis foi enviado ao IML, onde o corpo de Juscelino era preparado. Àquela altura, a disputa pelo velório já chegara às portas do Instituto Médico-Legal. Pressões políticas, uma palavrinha de amigos influentes, valia tudo. Murilo Mello Filho, então um dos mais importantes diretores da Bloch, contou recentemente ao repórter Timóteo Lopes, do site No Mínimo, que naquela madrugada teve até que subornar funcionários para apressar a liberação do corpo de JK. Adopho Bloch - que no período em que JK era persona não grata dos poderosos o recebeu e o abrigou no prédio do Russell, montando um gabinete onde o ex-presidente pudesse se dedicar as escrever e receber amigos-, fazia questão de se despedir do velho amigo na casa que foi sua referência derradeira. Tinha razão. Se Murilo e Cony, que também foi ao IML, se encarregavam do trabalho digamos diplomático, usado luvas e persuasão para resolver o impasse, cabia ao Tarlis meter o pé na porta. E foi o que ele fez, atropelando os procedimentos e convencendo os funcionários a queimarem etapas no ritual legal. Na madrugada, com o Russel ainda com pouca gente, praticamente só os funcionários da Bloch, uma Kombi estaciona na porta principal do prédio. Sentado ao lado do motorista, Tarlis dava as ordens. “Encosta mais e vai mais à frente, meu irmão, assim fica melhor para desembarcar o caixão”, comandava. Esse era o Tarlis. Na Kombi, vinha o corpo de JK. Não sei havia um segundo veículo trazendo o caixão do Geraldo ou se os dois vinham juntos. Sob as ordens do Tarlis, os caixões de pinho envernizado, absolutamente iguais, foram desembarcados e dispostos lado a lado. JK à esquerda, seu motorista e fiel amigo à direita. O impacto atingira bastante a parte superior dos corpos de JK e do seu motorista. Os dois caixões estavam cobertos de cravos vermelhos que formavam desenho idênticos. A F&F publicou uma foto de Dona Sarah e de Márcia Kubitschek ao lado do caixão fechado. As fotos, na época, não mostram os rostos, nem de JK nem de Geraldo. A manta de flores que cobria os caixões também tinha um detalhe semelhante: uma cruz de cravos brancos. Não havia como distinguí-los. Surgiu a dúvida. Quem garantia que o caixão da esquerda era mesmo o de JK e o da direita, do Geraldo? Aparentemente, só o afoito e competente Tarlis, que comandara a ruidosa expedição de resgate desde o IML. Daí nasceu a hipótese e a especulação jamais esclarecidas. O próprio Cony já levantou essa bola em uma das suas crônicas na Folha de São Paulo sob o título “Coisas que Acontecem” publicada em 4 de junho de 2005. Estou levantando outra aqui. Como no vôlei, alguém que não eu que corte a bola e faça o ponto. O posicionamento dos caixões semelhantes e sem clara identificação foi aleatório? Apenas convencionou-se, na pressa, ali no Russel ou à saída do IML, qual o ataúde que abrigava JK? Do prédio da Manchete, o corpo de JK foi levado ao Santos Dumont, de onde, com escala no Galeão para troca de avião, foi transportado ao Campo da Esperança em Brasília. Anos depois, os restos mortais tidos de JK foram exumados e levados para o Memorial, onde permanecem em uma urna de mármore negro. Curiosamente, nenhum membro da família Kubitschek, segundo apurou o jornalista Timóteo Lopes, esteve presente à exumação. Já o corpo de Geraldo foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio, e, depois, exumado e levado para Belo Horizonte. Eis é o mistério. Como diz o Cony na sua crônica, “quem quiser que acredite”. Quem cobriu ou acompanhou o enterro de JK sabe que a pressa e o afobamento marcaram a cerimônia. À ditadura não interessava que o enterro de um líder cuja influência já parecia ter sido contida pelas fórmula autoritárias, incluindo-se aí o exílio, a cassação e as ameaças de morte, se transformasse em manifestação política contra o regime. De fato, policiais fardados e à paisana infiltrados no meio da multidão no percurso entre o prédio da Manchete e Santos Dumont apressavam ostensivamente o cortejo. A ordem – assim parecia -, era fazer o séqüito bater algum tipo de recorde de velocidade e chegar logo ao aeroporto rumo a Brasília, onde o controle era maior e menos provável uma manifestação nas ruas. Para os militares, o perigo era o Rio, o tambor que repercutiria bem mais qualquer protesto político. Foi a tamanha a pressa que não permitiu aos funcionários da Manchete colocar no caixão a bandeira nacional. Acabei tendo um participação casual nesse episódio. O cortejo saiu, ou disparou, e à altura do Hotel Glória um dos motoristas da Manchete me pediu que entregasse ao Jaquito (Pedro Jack Kapeller, sobrinho de Adolpho) um envelope pardo. Era a bandeira. Tentei várias me aproximar do caixão mas um cordão policial e a multidão compacta me impediram. Além disso, era impossível naquelas condições localizar o Jaquito. Quando o cortejo já se aproximava do Aterro, decidi furar o cordão de policiais de qualquer jeito. Foi o que fiz. Rasguei o envelope, desdobrei a bandeira e lancei-a sobre o caixão. O que era para ser um simples favor ao funcionário que não pôde cumprir sua tarefa de levar a bandeira ao Jaquito ganhou pompa e circunstância. O cortejo parou e a multidão cantou o Hino Nacional. A cena virou notícia dos jornais O Globo e Estado de São Paulo. Para quem tem uma biografia que cabe em poucas linhas, como este que vos fala, o episódio já é alguma coisa. É isso: se a História não me registra, e nem deve, eu deixo registrada aqui essa história. A morte e enterro de JK resultaram em uma edição especial da Fatos & Fotos que nos custou pouco mais de 24 horas de trabalho ininterrupto. Saímos cansados do Russell, com a satisfação de colocar uma revista nas ruas, e paramos no bar do Novo Mundo, point de incontáveis happy hour .Lá, entre um e outro uísque, com a tensão se derretendo on the rocks, restava o bate-papo, incluindo, entre risadas, as primeiras especulações sobre a história que acabei de contar acima. Sobre essa trama, cujo último capítulo não foi escrito e que talvez jamais o seja, é livre a fantasia. A acirrada disputa pela honra de sediar o velório de JK, naquela madrugada de agosto, pode ter resultado em um imbróglio histórico: o corpo de JK estaria em Minas, de resto, sua terra querida; e o de Geraldo no Memorial. Respostas para o laboratório de DNA mais próximo. Já falei que a velha F&F era divertida. Isso era. Mas instável também. E muito. Em alguns momentos ou de crise ou de tortuosas experimentações editoriais, como a que transformou a revista por um curto período em “feminina”, era um desconforto trabalhar ali, para dizer o mínimo. A proposta “feminina” nem sei quanto tempo durou mas conheço os números: antes da desastrada mudança vendia cerca de 17 mil exemplares na bancas do Rio; depois, a cifra despencou para 7 mil. O que era natural: a F&F não conquistou novas leitoras e perdeu uma boa fatia de leitores. Com a revista quase no chão, Adolpho chamou o Cony para tentar segurar a onda. A F&F voltou ao estilo anterior, atualidades, perfis, entrevistas, sem distinção de público. As vendas não melhoraram muito. Mas a sacudidela foi suficiente para dar à revista uma sobrevida. O tempo passou. Com a TV Manchete já consumindo muito da capacidade de investimento da Bloch Editores, as revistas estavam sacrificadas, com redações enxutas e custos e estrutura atrofiados. Em fins de 1984, estávamos eu, Cony e o Barros (o diretor de arte João Américo Barros) conversando sobre isso ao fim de um fechamento. Comentávamos a precariedade de produção e edição da F&F e não víamos perspectivas para tirar a revista do atoleiro em que se encontrava. Entre uma e outra opinião divergente pelo menos em uma coisa estávamos afinados: não tínhamos mais saco para continuar fazendo a F&F tal como se encontrava. A direção da empresa parecia tão embevecida pela TV que nem cobrava do Cony e da equipe um desempenho melhor. Daquela conversa surgiu a idéia de se fazer um projeto de uma nova revista. Mudar era melhor do que ficar parado, inerte. O Cony se encarregaria de levar a idéia ao Adolpho. Na época, Tancredo Neves chegara ao colégio eleitoral e virara presidente. Chegaria ao poder com uma penca de concessões aos militares mas era, apesar da eleição indireta, o primeiro presidente civil. Era dezembro de 1984 e Tancredo tomaria posse em 15 de março de 1985. Adolpho cedeu ao argumento do Cony de que seria a hora própria para se fazer uma revista de informação, mais moderna, no gênero, por exemplo, da Panorama italiana. A ditadura chegava ao fim e com a posse do Tancredo – de quem o Cony era amigo e conselheiro -. abria-se o espaço para a Bloch ter uma revista de análise e informação. Sem a pretensão de concorrer com a Veja e a Isto É mas disposta a ganhar um espaço nesse mercado. Fizemos um projeto, a idéia foi evoluindo. Adolpho se entusiasmou e mandou tocar a tarefa. Barros fez uma “boneca” que depois se transformou em uma peça publicitária a ser levada às agências. A receptividade foi boa. Começamos a montar a redação e marcamos a data para o lançamento em bancas: 17 de março, com a cobertura da posse de Tancredo Neves. O timo foi formado. Cony como diretor, eu como editor-executivo, Barros diretor de arte, Marcos Santarrita editor internacional, Sergio Ryff da nacional, Daisy Prétola chefe de reportagem, Lenira Alcure editora de cultura e comportamento e por aí vai. A revista durou 1 ano e 4 meses. Teve bons momentos, mas faltou-lhe fôlego e resistência. Um bom time de colunistas – os jornalistas José Augusto Ribeiro, Tão Gomes Pinto, Artur da Távola, Gilberto Dimenstein, Alfredo Grieco, Arnaldo Niskier, Murilo Melo Filho, Maria Helena Dutra, Sandro Moreira e Alberto Tammer, o médico Jayme Landmann, o humorista Cláudio Paiva, entre outros -, garantia à revista uma diversidade de opiniões que arejava o “pensamento único” mais comum a boa parte da imprensa naqueles tempos. Entusiasmo e garra para brigar por um espaço era o que não faltava à equipe mas já no número um fomos atropelados, literalmente, pela história. Tancredo empossado e subindo a rampa seria a capa da edição de estréia. Estava tudo pronto. Um longo ensaio sobre a vida e trajetória do político mineiro, as circunstâncias da eleição, o ministério, uma análise do futuro governo a partir do jeito de agir e das características do novo presidente. Para fechar a edição só faltava o factual. Ou seja, a posse propriamente dita. Era o que pretendíamos escrever mas não o que o destino rabiscava. O Cony entra na sala, me chama e ao Barros e diz, de cara: “Vamos ter que mudar a revista. Tancredo não toma posse”. Bem-informado – a notícia, gravíssima, ainda não vazara na imprensa --, Cony nos deixou atordoados. Ele não tinha dúvidas, estava seguro do que dizia. E os fatos confirmaram o “furo” do Cony. Nos dias seguintes, abriu-se a trágica seqüência que levaria à morte de Tancredo Neves. Na capa da Fatos Nº1, José de Ribamar Sarney anunciava o começo da sua era. Em 23 de abril de 2005, Cony publicou na Folha de São Paulo a crônica abaixo.Tancredo Os 20 anos da morte de Tancredo Neves reabriram os acontecimentos que impediram sua posse na Presidência da República. Sempre que acontecem casos de grande dramaticidade, surgem teorias conspiratórias. Na Itália, um jornal chegou a denunciar "la Mafia bianca", a máfia dos aventais brancos. Acompanhei os lances de sua eleição. No dia 12 de março, Mauro Salles telefonou-me avisando que ele queria jantar no dia seguinte com alguns amigos jornalistas, para ser exato, apenas quatro. Eu não poderia ir, porque estava preparando o primeiro número da revista "Fatos", cuja capa seria o novo presidente do Brasil. No dia 13, pela manhã, o jantar foi desmarcado. Com minha equipe deslocada em Brasília, fiquei no Rio para ultimar a edição. No dia 14, depois do almoço, recebi um telefonema de Brasília, de pessoa ligadíssima a Tancredo. Ela me avisou que Tancredo não iria tomar posse por estar doente. Pediu-me discrição. Como tinha de decidir sobre o editorial da revista, chamei o editor-chefe, José Esmeraldo Gonçalves, que hoje dirige uma revista do grupo Abril, e o diretor de arte, José Américo Barros, que atualmente faz freelance para diversas publicações. Discretamente, começamos a buscar uma alternativa para a revista. Longe dos acontecimentos, mas informado pela pessoa próxima de Tancredo, iniciei um texto sobre a crise que logo iria estourar. Impossível prever a bagunça que se instalaria no Hospital de Base, mas, naquele primeiro momento, não podia desculpar o erro de Tancredo, que, apesar de se saber doente e dos avisos da única pessoa que sabia da verdade, recusava-se à operação, que era urgente. Mas não houvera erro por parte dele. Sua preocupação não era mais ser presidente, mas garantir a tranqüilidade da sucessão. Temia que não dessem posse a Sarney. Na confusão que se seguiria, a redemocratização podia melar.Entre a vida e a missão, optou pelo sacrifício pessoal. Imolação que até hoje não foi compreendida.E foi-se a Fatos para as bancas com Sarney na Capa. A foto mostrava um Sarney que eu diria ainda perplexo. Dois passos atrás, como uma sombra, o general Leônidas Pires Gonçalves. A chamada de capa: Sarney na presidência: o primeiro teste da Nova República. No canto direito, uma janela: Tancredo passa mal durante a missa, horas antes da posse. Para os militares, estava claro que melhor um Sarney na mão do que um Tancredo confabulando à mineira. Na página 7 a revista publicava uma charge do Cláudio Paiva. No desenho, um general medalhado, de quepe alto como um típico ditador sul-americano deixava cair o peso da mão sobre o ombro de um médico e “falava”: “É grave, doutor?” A interrogação estava ali como adereço. A frase mais parecia um apelo: “Diz que é grave doutor”. No mais, além da cobertura da posse e da análise de um ministério que tinha muitos dos “mesmos” dos anos de chumbo - Marco Maciel, Golbery do Couto e Silva, Olavo Setúbal, Roberto Gusmão, Antonio Carlos Magalhães -, a edição trazia uma curiosidade: na págína 20, um anúncio do Governo de Minas, que já estava impresso e não foi possível mudar saudava a posse de Tancredo. A mensagem, assinada pelo então governador Hélio Garcia, ressaltava que “o povo mineiro renova sua total confiança em que a posse do eminente estadista Dr. Tancredo de Almeida Neves na Presidência da República dá início a um novo tempo” (...) “Reconciliada e restaurada em sua crença, a Nação assume a Nova República e a entrega, confiantemente, ao comando lúcido e sereno do eminente Presidente Tancredo Neves”. Como estava escrito que Tancredo não assumiria a presidência, estava escrito que a Fatos não emplacaria nas bancas. Menos de um ano e meio depois, fechamos a edição número 70 e selamos as portas da redação no 8º andar do Russel. Ainda sairia uma Fatos especial, já fora do nosso controle, com o empresário Antonio Ermírio na capa, mas aquele era um número comercial. O sonha já havia acabado e fomos cuidar da vida. A última edição tinha apenas três páginas de anúncios, já não estávamos dispostos a resistir às pressões internas, políticas e pessoais – o que fizemos desde o número zero – e jogamos a toalha. Não sem antes mandar um recado. Na capa, em fundo preto, colocamos o ministro Dílson Funaro que, coincidentemente, tal como a Fatos, também estava pedindo penico. Para nós, a capa era o que menos importava. A palavrinha que queríamos deixar gravada estava lá, em vermelho, grifada, no alto da página, logo abaixo do logotipo da revista; Sabotagem!. Referia-se ao momento econômivco do pais e, de quebra, lavava modestamente nossa alma. De certo, muitos colegas que por oportunismo tinham aderido à “campanha” interna promovida por certos diretores captaram a mensagem. Fechada a revista, fomos “comemorar” no bar do Novo Mundo. Página virada, muita frustração e uma derrota no fígado.Nos anos seguintes, vida que segue, fui para o jornal O Globo, voltei à Manchete e trabalhei nas revistas Caras e Contigo. Mas isso aí são outros quinhentos. [José Esmeraldo Gonçalves]
De pai e mãe
“De onde menos se espera, daí mesmo é que não sai coisa nenhuma”. Perdoe-me o Barão de Itararé, mas onde menos se espera, em ambientes de disciplina rigorosa, irrompe uma energia de sobrevivência, que desperta a criatividade e favorece a formação de laços fraternos. Pode parecer uma tese perigosa, mas foi o que aconteceu comigo...Eu tinha onze anos, quando subi a rua Ferreira de Almeida, no Alto da Boa Vista, para estudar interna no colégio Sacré-Coeur de Jésus. Muitos anos depois, em janeiro de 1978, subi também pela primeira vez ao sexto andar do prédio da Manchete, na rua do Russelll, 804. Ali funcionava em regime de semi-internato, as redações das revistas mensais (Pais & Filhos, Desfile, Ele & Ela, Carinho e outras) de Bloch Editores. Do colégio interno onde estudei sete anos, trago lembranças boas e outras más, uma bagagem onde incluo de melhor as amigas de infância, quase irmãs (vivíamos dia e noite juntas, uma família no lugar das nossas); duas ou três professoras excelentes; também duas ou três freiras idem, às quais devo o aprendizado do francês quase sem fazer força e uma razoável cultura humanística.Na Manchete, passei o dobro do tempo: exatos 14 anos - cifra essa, que deixo aos numerólogos de plantão, para elocubrações pertinentes. O baú que adquiri em diversas funções, em diferentes revistas e até na televisão, inclui também um sentimento de irmandade com os antigos colegas, e a igual constatação de que contra rigores autoritários sempre há algum drible de sobrevivência, um aprendizado de ousadia que pode nos levar adiante e melhor. Como jornalista, tive na Bloch a vantagem de ter conseguido trabalhar em várias revistas, além da TV. Fiz todo tipo de reportagem: comportamento, saúde, viagens, política, economia. Entrevistei anônimos que me deram depoimentos marcantes e VIPs que estenderam o tempo normalmente concedido para horas de conversa. Algumas delas se perpetuaram em livros: a com o professor e ensaísta Alceu Amoroso Lima figura entre as 30 mais importantes das concedidas em sua longa vida, coletadas numa edição póstuma pela Nova Fronteira; a da atriz Dina Sfat está relembrada na biografia escrita por Mara Caballero. Outras, como a do líder comunista Luiz Carlos Prestes, começou com o aviso de que ele só teria 15 minutos disponíveis. Durou mais de duas horas, com o velho Cavaleiro da Esperança sentado no chão, saciando a minha curiosidade com recortes e fotografias de sua trajetória. Esta variedade que me valeu reconhecimento dos meus chefes e respeito de colegas e leitores só poderia ter acontecido na Bloch daquela época. No final dos anos 70 e nos seguintes, a Casa já não era mais a número Um. Com muitos desfalques das mentes brilhantes dos primeiros tempos – me disse certa vez, um amigo editor – eu tinha chegado à estrela da Manchete. A minha, a nossa história agora palmilho e partilho com os meus irmãos do Russelll, enfiados na mesma andança que eu, damas e cavalheiros de tristes figuras, que aprendemos a rir para não chorar. E ainda, com quem mais se aventurar pelas narrativas do que ali vivemos e aqui contamos. Para fechar este preâmbulo, explico o título acima: sete anos de Sacré-Coeur e 14 na Bloch têm muito a ver com quem sou hoje, como pessoa e profissional. De um certo modo, como acontece nas melhores e nas piores famílias, misturam-se ganhos e perdas, vitórias e paranóias, o bem e o mal: não nego, nem renego, sou filha de pai e mãe. Os primeiros tempos - No 6º andar do prédio do Russelll, de frente para o belíssimo panorama da Guanabara, funcionava a revista mensal Pais & Filhos. Fui trabalhar lá, a convite da então diretora-executiva, Ângela Teresa. Tínhamos nos conhecido num desses coquetéis boca-livre para imprensa, eu ainda na Editora Vecchi, empresa igualmente familiar, igualmente passional, e já nessa época em regime pré-falimentar. Minha primeira tarefa foi editar um filhote da revista, o livrinho Seu Filho de A a Z. Logo depois, recebi a incumbência de uma edição especial intitulada Gravidez. Não demorou três meses e quem ficou grávida fui eu. Perdi o bebê por conta de uma gravidez ectópica, quer dizer, fora do útero. Eu nem sabia que estava grávida, nem muito menos que a fecundação acontece numa das trompas - a fixação é que se dá no útero, este sim, com elasticidade suficiente para alojar o feto em seu desenvolvimento; se o óvulo fecundado permanece na trompa, não há como a gestação ir adiante. Tudo isso e muito mais sobre as chamadas tubárias, fiquei sabendo, graças à entrevista que fiz com Dr. Osmar Teixeira Costa, professor catedrático e especialista no assunto. Quando comecei a ter todos os sintomas que ele me havia descrito dois ou três dias antes, achei que era imaginação minha, eu tinha pirado. Nem uma coisa, nem outra. Conto esse fato associado a algo que considero no mínimo surpreendente: nos quase cinco anos em que estive na Pais & Filhos, praticamente todas as mulheres que lá trabalharam ficaram grávidas: foram duas repórteres, Liana e Miriam; duas redatoras, Amélia e Simone; Zila, produtora de fotos e mulher do Nélio Horta, chefe de arte; a secretária a quem chamávamos Martinha; a diretora que substituiu Ângela Teresa, e eu mesma. A Miriam até exagerou: aos 40 anos, teve gêmeas! Pudera, vivíamos às voltas com mamadeiras e fraldas, bebês reconchudos e mamães de primeira viagem. Nenhuma de nós, porém, superou o índice de impressionabilidade da nossa primeira chefe de redação. Chamava-se Eneida ou qualquer nome assim. Todos os meses, publicávamos a versão brasileira de uma série de textos e desenhos científicos fantásticos da editora italiana Mondadori, sobre o corpo humano. Depois de traduzido, o texto seguia para aprovação de um médico de nossa equipe de consultores. A Eneida era quem fazia a revisão final: mês sim e outro também, a coitada sentia todos os sintomas da vez. Ora sofria do coração, ora do pâncreas, ou então era a circulação venosa entupida, a digestão difícil, a insuportável cefaléia. Não sei se foi esse o motivo, mas em pouco tempo, ela saiu da Bloch e eu assumi o lugar, na chefia de redação.Tínhamos uma equipe ótima, dez ou 12 pessoas, entre elas, duas focas (novatas): Amelinha (Amélia Gonzalez, hoje editora da Revista de TV e do encarte Razão Social, de O GLOBO). Além de excelente apuradora, logo pegou o jeito do texto, tornando-se uma das melhores redatoras. Sem falar em outros atributos que faziam a rapaziada do Ele&Ela, nossos vizinhos de redação, darem longos suspiros: as pernas roliças e o jeito quase comportado da nossa jovem colega atiçavam-lhes a imaginação mais do que as belezas peladas e peitudas às quais estavam acostumados. A outra era a Simone, (Simone Lima, depois redatora em O GLOBO, O DIA e JB, hoje editora da Revista da PETROBRÁS). Recém-formada, não tinha sido indicada por ninguém. Simplesmente apareceu, procurando frila1 com uma sugestão de pauta. Quando voltou, a matéria pronta, ótima, sem erro algum – desconfiamos. Já tínhamos tido uma experiência frustrante com outro repórter apenas saído da faculdade: a primeira reportagem ótima, as seguintes péssimas, nos levaram a crer que teria tido uma ajuda inicial que depois não se repetiu. Por causa disso, encomendamos a Simone outra pauta, e de novo ela entregou mais um texto excelente. Depois, outro, e outro mais. Enfim... não foram dezenas: ao cabo de três ou quatro, foi contratada.Por falar em frila: a Bloch abusava da figura esdrúxula do frila fixo. Geralmente, era um(a) repórter com as mesmas obrigações dos contratados, trabalhava o mês inteiro e recebia salário, sem carteira assinada, nem direitos trabalhistas. Vantagens? Os atrasos não eram descontados: pudera, como cobrar horário de quem oficialmente não existia? Para muitos, não havia outra escolha, era assim ou nada. Eu, por exemplo, passei oito meses nessa situação. Havia também quem preferisse não assumir o contrato. As razões eram várias, mas de um modo geral esse era um meio de se ter maior liberdade. Nessa categoria, me lembro da Liana, repórter séria, responsável, mas que nunca admitiu submeter-se ao policiamento excessivo: a entrada era às 9:30, com tolerância até as 10:00. A partir daí, um funcionário do Departamento de Pessoal ia de sala em sala, checando quem estava ou não. O controle se repetia na hora do almoço e, muitas vezes, na saída. Em cada redação, a chefia tinha a prerrogativa de justificar por que A ou B não estavam na sala. “Na rua, fazendo matéria” - era a explicação corrente, que nem sempre correspondia à verdade. Outra saída, mais freqüente nas redações onde predominavam os homens, era informar que o colega em questão tinha ido ao INPS (antigo nome do INSS) - na verdade, esse era o nome com que designávamos o botequim que funcionava ao lado da editora e onde a turma do copo se reunia para uns tragos, na hora do expediente. Não me recordo de delações. Acho que todos recorríamos a esses meios de acobertar ausências, até com um certo prazer de burlar a fiscalização severa que nos era imposta. Os tais dribles da sobrevivência.Esse policiamento que se prolongava ao longo do dia, com anotações na portaria de quem saía e entrava, fazendo o quê, e quando, durou até a chegada da televisão, em 1983. Com a operação da TV funcionando no mesmo prédio, o controle se mostrou inviável e acabou por desaparecer. Mas o esquema coercitivo anterior afastou muita gente da Bloch, muitos frilas que nem chegavam a se candidatar, assustados até porque não tinham, como eu, a experiência de regimes austeros. Não sabiam que esses rituais escondiam um caos subjacente, sem maiores conseqüências. A liberdade estava não em infringi-los, mas em entender a sua dinâmica e, na medida do possível, contorná-los. Entre as frilas fixas, tivemos também uma repórter que acabara de se separar e voltara do exterior, onde o marido era correspondente de um grande jornal. Não queria contrato, porque pleiteava uma vaga séria numa editoria política. Passou uns quatro meses na Pais & Filhos, onde se espantava com a qualidade do resultado, em contraste com o clima de balbúrdia reinante: “É incrível, como todo mês, a revista sai na data e bem feita!”O clima alegre da P&F devia-se em parte à personalidade esfuziante da diretora, em parte ao fato do 6º andar ser uma espécie de oásis, um tanto fora da linha de tiro da suprema diretoria, muito mais preocupada com que se passava no 8º, onde funcionavam as semanais, sobretudo o carro-chefe da Casa, a Manchete.A fórmula de sucesso da revista P&F não era nossa. No inicio dos anos 70, a Bloch comprara os direitos da alemã Eltern (Pais). Tínhamos a exclusividade no Brasil, não só dos textos (que pouco aproveitávamos), mas de todo o excelente material fotográfico, essencial para a qualidade gráfica do produto. Sem falar no apelo mercadológico daquelas imagens quase todas de crianças louras e lindas, padrão xuxa de beleza, sonho de um país que não existe e negação de nossa realidade étnica. Numa época anterior ao PPC (pensamento politicamente correto), nunca vi bebê, criança ou grávida negra ou mulata na capa, nem mesmo no miolo da revista. Nossa fábrica de fantasias não se limitava aos modelos fotográficos. Antes de prosseguir, faço a ressalva de que a Pais & Filhos era a única das revistas onde o superintendente da empresa, Pedro Jack Kappeler, o Jaquito, ele próprio pai de cinco filhos, admitia perder dinheiro, ou seja, não submeter o editorial ao comercial. Quem ia trabalhar lá, de um modo geral, entrava logo nesse espírito ético, digamos. Mas apesar de nossas boas e puras intenções, o mundo encantado que propúnhamos às jovens mães, muitas vezes estava completamente fora da realidade delas e de qualquer família concreta. Era aquela uma época em que ensinávamos aos casais discutir a relação, às mães explicar o não a seus pequerruchos, e às grávidas as futuras alegrias da maternidade. Tínhamos respostas prontas para tudo, do primeiro banho aos primeiros passos, das brigas entre irmãos ao preparo das mamadeiras. Mas, como me declarou depois uma ex-compradora fiel da revista: só esquecíamos de dizer que criança chora a noite inteira, que troca a fralda 20 ou mais vezes por dia, que a vida sexual vai pro brejo e outras realidades que ocultávamos nas belas páginas cor de rosa.É também verdade que em meio a este cenário, desvendávamos mistérios, sugeríamos mudanças de comportamento, alertávamos sobre a responsabilidade de trazer um filho ao mundo. As reportagens eram apuradas com rigor, respaldadas por um corpo de consultores - médicos, psicólogos e advogados de renome, quase todos titulares de conceituadas universidades. Depois de escritas, passavam pela chefia de redação para um copy final e eram enviadas de volta aos profissionais citados, de modo a garantir a fidelidade da informação. Muitas vezes, as alterações que queriam eram simples trocas de seis por meia dúzia, sem levar em conta o vício das repetições ou o problema do jargão técnico para um público não especializado. Era então preciso negociar, fazer o professor doutor entender o universo mental e lingüístico de nossas leitoras, bem distinto do público alvo das revistas médicas em que escreviam. Na maioria das vezes, chegava-se a um acordo, mas o consultor sempre tinha direito à palavra final.Este costume de ir e vir das reportagens já existia quando eu entrei na P&F entre a redação e a Censura Federal. A revista publicava todos os meses um encarte fechado sobre sexo, além de fotos de gestantes em trabalho de parto. Parece incrível, mas todo esse material ia por malote para Brasília, de onde nos era devolvido, muitas vezes com o lápis vermelho do censor assinalando imagens e textos tidos por ofensivos à moral. Certa vez, preparei um encarte, com a orientação de um médico sexólogo renomado, depois totalmente vetado por Brasília. Pena, não guardei a cópia como prova da inquisição. Teria feito bem ao meu currículo.Já as idas e vindas de matérias entre redação e consultores, apesar de novidade estranha ao mundo jornalístico, teve uma origem explicável, depois das muitas trapalhadas cometidas por uma nossa repórter, que confundia alhos com bugalhos, e assim expunha a vexames nosso corpo de consultoria. Para preservar-lhes a credibilidade e a nossa seriedade, impôs-se então uma revisão dos textos preparados na redação, a serem endossados pelo especialista ouvido como consultor. Houve, no entanto, quem maldosamente visse aí um controle ideológico: o fato é que a referida autora era uma ex-presa política, com passagem pela Rússia e abrigada na Bloch, como tantos outros perseguidos pelo regime militar. Dela e à sua frente, dizia a diretora: “Você é a minha cruz! passou cinco anos fora, voltou sem saber russo e ainda esqueceu o português!” Essa e outras pérolas estão no Livro Vermelho de Ângela Teresa, coletadas pela equipe, na sua despedida no início de 1980. Em seu lugar, assumiu a direção-executiva uma louca de cabelos longos e idéias curtas, que tornou a vida na redação, um inferno. Depois de algum tempo, disposta a ganhar o apoio da equipe, promoveu um lanche para todos. Enquanto esperava a chegada dos comes-e-bebes, contou como se vingara do marido, de quem havia descoberto uma traição: durante semanas, foi dando veneno ao gatinho de estimação dele, aos poucos. Apesar das sete vidas, o bichinho morreu, e de tristeza o dono quase foi junto! Um crime perfeito. Só que, na redação, não se ouviu nem mais um pio, e quando as comidas chegaram, ninguém quis tocar em nada, salvo nos refrigerantes engarrafados e muito bem lacrados.A experiência com as semanais – No início dos anos 80, com a volta de Ângela Teresa à Bloch, fui com ela para a revista Fatos & Fotos. Nascida na década de 60, a F&Fcomeçou como uma forma de aproveitar o amplo material fotográfico que sobrava da Manchete. Textos curtos, fotos de impacto, fizeram escola para muitas publicações, até hoje. Quando começou, toda em P&B, tinha agilidade maior que a revista-mãe, e muitas fotos históricas tiveram aí a primeira publicação. Com o tempo, a revista já em 4 cores, tornou-se uma espécie de balão de ensaio da Bloch. Todos os anos, havia a F&F Carnaval, onde só não se mostrava tudo porque a Censura era implacável, mas de qualquer jeito ia-se muito além das páginas coloridas e razoavelmente bem comportadas da Manchete. Houve também uma fase F&F Gente, antecessora de Caras e congêneres, e até uma F&F Mulher, tentativa de fazer uma semanal para mulheres.Nessa é que entramos, Ângela, de diretora, sob a supervisão do Cony. E eu, acho que de chefe de redação, com o José Esmeraldo, de subeditor. Ou talvez, fosse o contrário. De qualquer maneira, era uma guinada de 180º. O modelo era a Elle francesa, que mantinha nessa época um flerte com a Bloch. O Jaquito conseguira uma concessão temporária que nos garantia a exclusividade. O máximo de nudez eram as barrigas de fora de grávidas ou fotos de praia; falávamos de sexo, às vezes com textos até picantes, mas nada bizarro; muita moda, culinária, viagens; e gente: entrevistas algumas de página inteira, uma das primeiras com a Luiza Brunet, aos 17 anos, de quem comecei dizendo que, se não fosse uma pintinha no pé, seria a encarnação de Iracema, a virgem de cabelos cor das asas da graúna e lábios de mel, imortalizada pelo escritor romântico José de Alencar. (Fazia sucesso entre nós esse uso de citações, uma mal disfarçada exibição de erudição livresca, empregada tanto em títulos, quanto no próprio texto.) A novidade do timing das semanais foi para mim uma descoberta e uma motivação extra. Nas mensais, demorava-se um tempo enorme, fazendo, refazendo, antecipando os acontecimentos dois meses antes, que era a diferença entre a pauta, o fechamento e a edição chegar ao público. Na redação de uma revista feminina mensal, vive-se o Natal, em outubro, o Dia dos Namorados, em abril. Em dezembro, por exemplo, eu já estava metida na preparação de pauta para volta às aulas. Quando a edição saía do forno para a banca, já nem dela me lembrava mais. Nas semanais, não: tudo acontecia em cinco dias. Apurava-se, escrevíamos, daí para a fotocomposição, depois os layouts, cromos e fotos seguiam rápido para a gráfica e dali para a vida curta, mas trepidante da rua.A importância de um banheiro - No final de 81, tive um convite irrecusável para trabalhar na Editora Globo, que ressurgira das cinzas da antiga Riográfica. Era um projeto novo, destinado ao público feminino, que eu estava careca de conhecer. O salário, duas vezes o da Bloch. Fui, mas só fiquei três meses. Descobri que aquela não era mais a minha praia. Dei uma de Marx Grouch: quando pedi as contas, disse ao diretor que eu não me recomendaria para o cargo. O que não disse era o quanto também me incomodavam os sanitários sujos e decadentes do prédio ainda não reformado. Que saudades dos banheiros arejados e limpos do Russell, com acabamento em mármore e... papel sempre. Foi assim que voltei para a Bloch, ganhando até um pouco mais do que quando me afastara.Era março, 1982: na ante-sala do Jaquito, eu o aguardava para saber em que revista iria trabalhar. Cony entrou na sala, me viu, nunca tinha me cumprimentado. Virou-se para mim e disse de chofre: “você está voltando: não quer vir trabalhar comigo na Fatos & Fotos?” Fui.O projeto Elle desaparecera. O retorno financeiro não compensava- alguns anos depois, quando a Abril comprou os direitos da editora francesa, abandonou a idéia da semanal e acabou fazendo mais uma revista mensal feminina. Ângela Teresa tinha voltado para a TV Globo e Cony assumira a direção, sempre com o Esmeraldo de fiel escudeiro. Eu era redatora, repórter especial, copidesque, jornalista bombril, de mil e uma utilidades. Foi dessa época, a série idealizada por Cony, sob o título de O Dia Que Mudou a Minha Vida: foram longas e preciosas entrevistas, as já citadas com Prestes e Dr. Alceu, e ainda Jânio Quadros, Afonso Arinos, Darlene Glória, para lembrar algumas. Teriam dado um livro, não fosse de repente a ordem de assumir a subeditoria da revista Mulher de Hoje.Senti a saída da F&F, mas a nova experiência também tinha um certo encanto para mim. A revista era mensal, um ponto contra, no meu ponto de vista. Mas me agradava o público, leitoras da fatia popular bem distinta do target da elegante Desfile, onde volta e meia eu assinava uma matéria, sempre uma encomenda especial do diretor Roberto Barreira . Para mim, era um novo desafio. Aceitei, sob a direção de Eveline Sigelmann, filha do Oscar Bloch, sobrinha-neta do Adolpho. Mas Eveline era sensível, alegre, inteligente. Nada de ares de dona, nem de parente do dono. Estava sempre do lado da redação, não dedurava colega, não infringia códigos básicos de ética. Com ela trabalhava também uma das irmãs, Claudia, de quem dizíamos que se fantasiava de pobre, sempre com um velho jeans surrado. Morreu num desastre, horas depois do casamento apoteótico da Eveline.Recém-casada, ela deixou a revista e, no dia seguinte, assumi a direção da Mulher de Hoje. Minha gestão durou seis horas, o tempo de ser informada que eu teria como supervisor um antigo gráfico, que já trabalhara na revista, onde mantinha um regime de trabalhos forçados, só liberando a redação horas depois do expediente. Havia ainda outros senões: sua eminência era tido e havido como dedo-duro e alpinista profissional. Fui ao Jaquito, que insistiu no esquema. Promoveu uma reunião entre as partes, disse que aquela era a forma de se trabalhar na Manchete, um fiscalizando o outro. Deu de exemplo duas pessoas de notório desentendimento. Mas eu sabia que se aceitasse a estranha parceria, seria varrida logo depois. Para sair, era melhor de cabeça erguida, afinal respeito profissional e pessoal não me faltavam. Jaquito espumou, os outros presentes, mudos: “Se não estivéssemos tão sem gente competente, eu mandaria você embora agora. Mas com duas revistas sem direção-executiva, não posso dispensar. Você assume a Pais & Filhos, mas nunca mais me dirija a palavra.” Algum tempo depois, Oscar Bloch me disse que eu tinha feito o que nunca ninguém ousara na empresa: recusar um cargo de chefia!Foi assim que voltei ao meu berço de origem, onde encontrei toda a antiga redação. Jaquito cumpriu a promessa. Passei dois anos como diretora de uma importante revista da Casa, sem que o superintendente sequer falasse comigo. As pendências, eu resolvia com os meus superiores hierárquicos Roberto Barreira, da Desfile, que seria sempre um grande amigo, e o prof. Arnaldo Niskier, então gerente editorial da Bloch. Educado, inteligente, o professor atendia aos meus pedidos, quando podia. E se não podia, também não enrolava. A troca não poderia ser melhor.Cinco anos de Pais & Filhos (três de chefe de redação e dois de diretora), às voltas com fraldas e mamadeiras, no final de 1984, eu já não agüentava mais. Foi então que recebi o convite de voltar a trabalhar com Esmeraldo e Cony, numa nova revista. Em março de 1985, quando o País voltava a um governo civil, saía o primeiro número da Fatos, uma revista semanal de atualidade, com textos de alguns jornalistas tarimbados (Villas Boas Corrêa, Carlos Chagas, Marcos Santarrita são alguns desses nomes que me vêm de pronto) e outros de menos visibilidade, mas em quem Cony e Esmeraldo punham fé para o projeto dar certo. Não era fácil e não foi possível.Pretensões blochianas - O semanário em que se pensava assinalar o nascimento e as mudanças prometidas da Nova República estreou sob o impacto da doença de Tancredo Neves e, depois, a sua morte. Dessa época, recordo-me de um desentendimento com o Cony que queria de mim uma entrevista com D. Risoleta, com explicações para aquilo que parecia um ocultamento da verdade por parte da família. A missão era para lá de delicada. Colega dos tempos de internato das duas filhas de Dr. Tancredo e D. Risoleta, com as quais mantive laços de amizade, ao longo de todos esses anos, declinei da missão, impedida de desempenhar a tarefa com a necessária isenção.Muitos anos mais tarde, Cony contou na minha frente uma outra versão: eu teria ido por conta da Bloch a São João del Rei, me hospedara no Solar dos Neves, mas de lá me recusara a fazer a entrevista. Confusão do caro mestre: estive realmente no Solar, a convite de uma das filhas, minha antiga colega de turma, numa época, em que nem jornalista era. É provável que eu tenha contado isso a ele, que também era amigo dos Neves, e assim acabou confundindo as duas histórias.Como utilizar-me de um laço de afeto nascido na adolescência longínqua, embebido da natural confiança do tempo, para no momento da dolorosa exposição pública por que passavam, invadir-lhes a privacidade e daí extrair-lhes algum segredo? Além do mais, D. Risoleta era em tudo, uma dama, ainda mais mineira, sempre primara pela discreção: não diria mesmo uma só palavra. Houve algumas outras brigas – reconheço que sempre fui petulante (hoje, um pouco menos), e Cony é um sujeito naturalmente afável, mas adora enfrentamentos. Fora essas pequenas rusgas, o clima de trabalho na Fatos era de amizade e respeito entre todos que lá trabalharam. Voltei às grandes entrevistas, com muitas viagens, um farto elenco de governadores, políticos, economistas, e também artistas e escritores. Do governador Brizola ao líder da CUT Jair Meneguelli, da atriz Claudia Raia ao beneditino Frei Betto, do ex-ministro Delfim Netto ao urbanista e artífice de Curitiba, Jaime Lerner, para citar alguns.Outra tarefa que me coube foi a de ser responsável pelo fechamento da matéria de capa. Era preciso organizar, editar, reescrever material de cinco ou oito repórteres diferentes, reportagens do Rio, São Paulo, Belo-Horizonte, Brasília, enfim dos vários escritórios da Manchete onde tínhamos montado um base mínima de apuração e fotografia. Tudo isso acabava altas horas da noite do fechamento de cada edição. Foi aí que nasceu a congregação pão com ovo, alimentada pelos fartos sanduíches com que o Evaldo, nosso querido secretário, era saudado no pescoção das sextas-feiras. Aliás, o item comida merece uma citação à parte. Uma anedota maldosa corria pelos corredores: “a Bloch é um ótimo restaurante.” Era verdade, nos tempos pré-TV Manchete, o 3º andar onde pontificava o Severino (a quem depois Adolpho ajudou a eleger vereador) reunia grupos alegres de funcionários na hora do almoço, sempre muito concorrido: ali, não raro, comia-se empadão de camarão, com camarão de verdade, e farto; às sextas-feiras, era servida uma feijoada, que nos deixava entorpecidos, impedidos de trabalhar por toda a tarde. Adolpho Bloch devia ter sido um sujeito muito impressionado com as fotos de campo de concentração e não queria ver ninguém com fome, perto dele. Certa vez, por causa de uma tempestade que inundou o Russell, meia empresa ficou retida muito além do horário. Ele ordenou que a cozinha preparasse comida para todos. Acho que nunca o vi tão satisfeito: os funcionários todos lá, até tarde da noite, sem reclamar e agradecidos. Voltando a Fatos: de um repórter não posso me esquecer, Luís Sarmento, veterano no oficio, freqüentador assíduo do nosso INPS. Era repórter brilhante, capaz de furos incríveis, recheados também por muita fantasia que era preciso garimpar para não se cair na revista-ficção. Por ocasião de um quase dilúvio em Vitória (ES), Sarmento foi mandado para lá. Voltou com várias histórias, muita tragédia, uma família que perdeu todos e tudo – enfim, pressionei nosso repórter, havia exagero demais, teria sido aquilo mesmo? - “Bem, assim igualzinho, não, mas no meio daquela desgraça toda, você acha que não havia uma família nessa situação?” - argumentou. Não colou. O que não tinha provas, fotos, depoimentos consistentes era riscado. Mesmo assim, todas as semanas, insistia: copy de texto dele, só feito por mim. Saudoso Sarmento, quanto elogio!Novas mudanças - Em julho de 1986, eu acabara de voltar de férias de um tour pela França e Espanha. Na mala, trazia fotos e textos de reportagens que venderia como free-lancer para a revista Geográfica Universal. Essa era outra particularidade da Casa: pagar extra por trabalho extraordinário, fora da redação em que estávamos lotados. Isso servia de estímulo e proporcionava a quem, como eu, aceitava desafios, a possibilidade de testar e tentar diversos tipos de linguagens, conforme cada perfil de público leitor.O que eu não esperava era me confrontar com o haraquiri da revista Fatos. A expressão foi usada pelo também saudoso Sérgio Ryff, nosso companheiro de redação, ao descrever o ato final de desmanche da equipe, diante da guerra que se instalara na empresa contra a revista, em geral e Cony, em particular. A acusação era de que parte substancial de recursos estavam sendo exauridos em uma revista no vermelho, embora isso fosse esperado, acontece com a maioria das publicações. Um a dois anos, este é o tempo para uma revista se firmar no mercado. Mas a turma dos enciumados com o prestígio interno da Fatos não descansava. Contávamos, é certo, com o apoio pessoal do Adolpho, mais por amizade ao Cony do que por instinto editorial. A Bloch tinha uma longa tradição gráfica e a nossa não era certamente a revista cartão-de- visitas da empresa. Cansados de lutar contra quase todos, os dois capitães da incrível armada blochleone, Cony e Esmeraldo, decidiram fechar. Não sem dar a cada um da equipe a possibilidade de trabalhar em outra redação da Casa. Foi assim que, realizando um sonho antigo, fui parar na Revista Geográfica Universal, onde já estava meu amigo e irmão Cássio Barsante. A revista tinha um projeto inspirado na National Geographic, a ponto de confundir muitos leitores, que compravam a revista, como a versão brasileira da original americana. Não era: tratava-se de uma cópia pirata, bem feita e até incrementada. Foi esse também um período muito valioso em minha vida. Mais uma vez, tive a chance de conviver com excelentes profissionais da antiga, a maioria bons amigos que assim continuaram – o mesmo Ryff, ex-Fatos, o já citado Cássio, o Callado, de dupla personalidade: uma sóbrio, de manhã, outra depois do almoço, quando não adiantava lhe pedir qualquer coisa. Não ficava bêbado, apenas zen. E ainda a secretária Maria Emília, prima de meu pai, que descobri um dia na fila do posto médico. Recém convertida à Igreja Universal, ela secretariava o Lincoln Martins que acumulava a direção da Geográfica com a de Ele& Ela. Por causa disso e também das bobagens que dizíamos na redação, Maria Emília desistiu de nos evangelizar e passou a nos ameaçar com a certeza do inferno, para onde iríamos todos – era o que dizia.Foi na redação da Geográfica que aprendi a viajar sentada, entre fotos estupendas dos lugares mais remotos, compradas de fotógrafos freelancers ou de agências. Com o Lincoln Martins, aprendi que relatos e imagens de terras distantes precisam ir muito além de paisagens paradisíacas e monumentos seculares. A presença humana, na sua variedade de faces, costumes, modos de ser e viver é o grande diferencial, a verdadeira vedete de uma publicação que se intitule geográfica. Esse olhar em busca do humano, do que nos é comum em meio à diversidade de povos e lugares, me guiou em reportagens que fiz no Marrocos, na Colômbia, na Rússia, na Espanha. E também no Brasil. Neste baú de experiências acumuladas, recordo-me especialmente da série de cinco matérias publicadas na Geográfica Universal, em 1988. Comemoravam-se então os 80 anos de imigração japonesa, no Brasil. Durante quase três meses, nossa equipe atravessou o estado de São Paulo, de norte a sul, do litoral à divisa com Mato Grosso do Sul, recolhendo histórias, visitando escolas, fazendas, ateliês, de japoneses e seus descendentes. Ao todo, foram 102 entrevistas, todas documentadas pelas lentes experientes do fotógrafo Vic Parisi, excelente profissional, excelente pessoa. Teria dado um livro. Não fiz, mas as reportagens ficaram nas páginas da revista e ainda deram crias, uma na Manchete, outra na Desfile.Muitos anos depois, em 2004, em viagem à Índia, de natureza pessoal, vi quanto me foi importante este treinamento na Geográfica. Quando voltei trazia uma reportagem, na verdade, um álbum com mais de 100 páginas de fotos e textos onde prevaleceu, para além do exótico, do pitoresco, o perfil humano, o olhar de um povo que me atingiu e emocionou profundamente.De volta às femininas – O passeio pela Geográfica durou quase três anos. No princípio de 1989, houve uma paralisação das redações, não me lembro o motivo, nem se era geral, se envolvia ou não a Gráfica, nem mesmo jornalistas de outras empresas. O certo é que na Bloch, nenhum diretor entregou ninguém de sua equipe. Mas alguma coisa houve e o tal antigo gráfico, que vinha de uma mal sucedida passagem pela chefia de reportagem da revista Manchete, acabou sendo recompensado, passando a supervisor da Geográfica Universal, isto é, acima do próprio Lincoln. Conseqüência imediata foi o meu imediato afastamento da revista. Se antes eu não admitira trabalhar com ele, era até lógico que também não quisesse trabalhar comigo. Foi assim que Roberto Barreira conseguiu, depois de muitas tentativas, me levar oficialmente para a Desfile. Desse período que se estendeu até o janeiro de 1991, recordo a oportunidade de entrevistas especiais, entre elas, com dama Fernanda Montenegro, sem adjetivos; outra, com Heloísa Lustosa, então diretora do MNBA. Sobre essa última, um parênteses, em parágrafo à parte.Sempre me preparei o melhor que pude para minhas entrevistas. Organizava um rol de perguntas baseadas nas pesquisas – outro parênteses, dentro do anterior: no 7º andar, funcionavam os Arquivos de fotos P&B e a cores (os dois, com material riquíssimo, hoje de inestimável valor histórico) e a Pesquisa, onde uma turma dedicada guardava em pastas, bem catalogadas, todo tipo de recortes e informações sobre os mais variados assuntos e pessoas. Era o nosso Google da época, pré-internet. Tive ali muitos amigos, alguns torcedores do Botafogo, como eu. Outros, como Chico Barreto, que me estendeu ao convívio de sua vasta família de mãe, dez irmãos, muitos cunhados e sobrinhos. Fecho o parênteses dentro do outro. Retomando: lia tudo que podia, anotava, estabelecia relações. A meus alunos, a quem tento passar a técnica, explico que o rol de perguntas sai primeiro desordenadamente, ao ritmo da pesquisa, depois é ordenado, podado até tomar a consistência adequada. Na hora H, pode até ser descartado!!! Uma entrevista é algo vivo, que adquire um movimento próprio que não é possível prever. Por isso, é que entrevista com perguntas prontas a um entrevistado em geral distante, são pouco adequadas, sobretudo quando se trata de um perfil.Isso me faz lembrar um antigo chefe com quem trabalhei no início dos anos 70 no INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais, de São José dos Campos), outro espaço coercitivo onde aprendi muito e de que aqui não falo mais para não alongar esta aparentada da fita-banana do Xexéo. Meu amigo José Luiz Braga, doutor em Comunicação pela Universidade de Paris, ex-professor da UnB, hoje na Unisinos (RGS), dizia que planejamento se faz para depois desrespeitar. Ou seja, é importante definir planos, saber onde pretendemos chegar, escolher os caminhos. Mas de repente, o inesperado se apresenta, há que se seguir atrás dele, jogar o que já não serve fora, sem esquecer, no entanto, que as ferramentas trazidas irão nos ajudar a encontrar o tesouro escondido. Pronto, aqui acaba o longo parênteses. A entrevista com a diretora do Museu de Belas Artes deveria abordar o lado executivo de uma mulher, que freqüentara as páginas sociais do Rio, pela beleza e elegância, e as deixara para dirigir instituições artísticas, o MAM, e depois o MNBA. De repente, uma pequena observação da entrevistada mudou tudo. Recomeçando quase do zero, a entrevista passou a tratar de temas existenciais, completadas com conversas bem longe do andar da diretoria, com funcionários do Museu, enfim o que não estava na pauta. Desse conjunto nasceu um perfil humano, de uma mulher integral, com suas fragilidades e igual força, que eu nem esperava encontrar.Aos novatos, gosto de lembrar uma passagem das memórias de Marco Pólo, a quem o imperador da China muito apreciava como embaixador, porque dos reinos distantes que visitava trazia, não apenas respostas às perguntas que mandara fazer, mas sobretudo às que nem pensara em fazer. Esse é o verdadeiro repórter. Ainda da época do Desfile, lembro o caderno especial de Cem Mulheres do Século XX. Fui encarregada da edição, não era um trabalho isolado, mas de equipe. Entre elas, lembro de duas ótimas redatoras, Eliane Levy (ex-O GLOBO, depois GAZETA MERCANTIL) e Sheila Moura (hoje na UFRJ, doutora em Literatura, pela PUC-Rio), que muito me ajudaram. Entre as homenageadas, estava com merecida inclusão a escritora Rose Marie Muraro, que me ficou eternamente agradecida. Em seu livro Memórias de uma Mulher Impossível, ela explica as razões: era uma época muito difícil de sua vida, estava deprimida, mesmo trabalhando na Editora Record, à frente do selo Rosa dos Tempos: “Em setembro, antes de a Rosa estourar, eu estava calmamente escrevendo em minha sala, quando ouço um estardalhaço. (...)Era a gerente de divulgação, com a revista Desfile na mão: você foi eleita uma das mulheres do século! Está aqui! (...) Era verdade. Nos anos 70, eu havia sido eleita várias vezes Mulher do Ano, inclusive quando estava fora do Brasil, e aquilo não me impressionava. Mais tarde iria ganhar várias medalhas (...) e tudo aquilo não me impressionou. Mas quando me vi, nas letras R-S, tendo de um lado Rosa de Luxemburgo, de outro Simone de Beauvoir, e em cima de quebra, Rita Hayworth, confesso que tive uma crise de narcisismo.” Mais adiante: “realizei muitas fantasias(...), aquela foi a mais gratificante de todas: achei melhor ser Mulher do Século do que ter encontrado o príncipe encantado”. E conclui: “agradeci intimamente a Lenita Alcury (desculpe, cara Rose Marie, mas meu nome é Lenira Alcure) a fantasia linda que ela me proporcionou.”A bem da verdade, devo dizer que na tal lista das mulheres do século, cometi um imperdoável erro jornalístico. Uma das homenageadas era a cantora lírica Bidu Sayão, de quem não achei quase nada na pesquisa – hoje pela internet, seria bem fácil. Mas eu me lembrava de ter visto e ouvido em casa de uma tia minha um disco dela, gravado nos Estados Unidos. Foi na capa do tal disco que encontrei alguma informação sobre essa brasileira, famosa no exterior, mas que o Brasil quase desconhecia. Fiz o verbete, e não sei por que cargas d’água, talvez impressionada pela data de 1948, escrevi que ela tinha morrido em Nova Iorque, onde morava. Gente, a Bidu estava vivinha da silva! Imagine o vexame, quando recebi um telefonema muito educado de uma sobrinha dela, me passando a informação. Anos mais tarde, ela seria tema do enredo de uma escola de samba e assim desfilou no Sambódromo, já bem velhinha é verdade, mas ainda lúcida e participante. Eu, que cobri oito ou dez carnavais para a Manchete, não tive coragem de me apresentar: ‘desculpe, eu sou aquela que matou a senhora, antes do tempo’!Por falar em cobertura de Carnaval: era o melhor tempo de trabalho na Bloch. Tudo funcionava. Recebíamos um dinheiro extra, além de uma semana de férias antes e outra para tirar quando quiséssemos, tínhamos transporte e alimentação gratuitos e fartos e, de quebra, no caso do sambódromo, o acesso à pista. Muitos detestavam a refrega de trabalho, eu não. Sempre achei que o melhor dos mundos era trabalhar e se divertir ao mesmo tempo.O fim, na televisão - No início de 1991, estourou a guerra do Iraque. A editoria internacional da televisão precisava de gente que soubesse inglês para acompanhar direto pela CNN e que tivesse alguma experiência em TV. Novo parênteses: em 1970, depois de um curso em Londres, de produção e direção de TV, eu começara a escrever para televisão no INPE, onde se organizou o projeto SACI (satélite avançado de comunicações interdisciplinares). Éramos mais de 30 pessoas, entre engenheiros, professores e comunicadores. Lá realizamos programas de TV e rádio como forma de ensino à distância para crianças e professores do Rio Grande do Norte, nossa área piloto. A idéia era depois estender ao Brasil inteiro, via satélite. Bem, mais uma vez estou lembrando a fita-banana do Xexéo. Ponto final para o INPE. Fecho o parênteses.Assim, quando veio a primeira guerra do Iraque, fui ao Zevi Ghivelder, que dirigia a TV Manchete e me mudei de mala e cuia para a televisão, onde fiquei na equipe de editores da Inter, a editoria internacional que já tinha bastante destaque na emissora, que a essa altura tinha todo o seu Jornalismo já consolidado pela credibilidade, ousadia, poder de análise e até mesmo extensão de tempo dedicado aos noticiários.Para não cair no risco de outra fita-banana e encurtar a história, vale a pena lembrar aqui algumas das vitórias que a emissora do Russelll conseguiu emplacar, sendo logo depois imitada pelas concorrentes, mais experientes e mais ricas. Tivemos, desde o inicio em 1983, a primeira bancada de apresentadores dentro da redação, além da presença constante de um grupo de especialistas que faziam constantes intervenções a respeito das matérias exibidas; fomos os primeiros a colocar no ar o clamor da ruas no comício pelas Diretas Já, em 1984, dois meses apenas depois de sermos também os únicos a acreditar na transmissão integral dos desfiles de escolas de Samba, no recém-inaugurado Sambódromo. A TV Manchete embalou para um público antes desprezado, o infantil, Xuxa e Angélica. A primeira era cria das revistas e foi de Ângela Teresa que, em menina, assistira a ex-vedete Virgínia Lane comandando um programa infantil, a idéia de testá-la num programa com crianças. Jaquito gostou da sugestão e a turma de TV, Moysés Weltman e depois Marlene, de produtora, fizeram o resto. Na dramaturgia, a Manchete fez algumas gratas incursões, a mais lembrada delas, Pantanal, onde Jayme Monjardim derrubou um dos mitos dos entendidos em liguagem televisual. O grande plano geral, antes restrito apenas ao cinema, podia ser agora visto na telinha, em longas tomadas que mostravam ao Brasil um Brasil até então desconhecido.Fiquei na televisão até setembro de 1992, quando a emissora passou pela tentativa de uma primeira venda, depois frustrada. Nesse ínterim, os novos donos andaram cortando gente e o encarregado da faxina ofereceu a minha cabeça, para salvar uma apadrinhada em começo de carreira. Saí da Casa, sem prejuízo. O próprio Jaquito – que a essa altura, já falava comigo – me sugeriu entrar na Justiça. Foi o que fiz, e num acordo, recebi um pouco menos do que tinha direito, mas também em pouco tempo. Quando veio a derrocada final, eu estava na TVE, onde fui editora internacional e comentarista. Entre as duas emissoras, houve um intervalo em que estaria desempregada, se não fosse a PUC onde me formei duas vezes (em Letras e em Jornalismo) e já era professora desde 1984. Lá estou até hoje, mesmo aposentada pelo INSS. E é aos meus alunos, em cuja convivência me reciclo a todo momento, que dedico este relato de um mundo e um tempo que não voltam mais. Se o salário quase sempre era pequeno, não era a alma, e muitos de nós soubemos compensá-lo por outros ganhos para os quais não há medidas, a começar a bela vista panorâmica da Baía de Guanabara, que os janelões projetados por Oscar Niemayer nos permitiam contemplar. Do crescimento e das oportunidades profissionais, já falei acima. No campo pessoal, é grato lembrar que aquela era também uma época decididamente romântica, tempo de grandes amizades e muitos romances. Amávamos muito, amores de todos os tipos e durações: platônicos, proscritos, prosaicos também, e quase sempre impossíveis. Movidos por uma variada gama de sentimentos, arrastávamos pelos corredores e redações a fisionomia e o coração dilacerados; selávamos pactos, mais tarde descumpridos; rios de lágrimas derramavam-se em meio a confidências apenas balbuciadas, segredos mal guardados, quando à boca pequena expúnhamos a ouvidos amigos as “nossas desgraças ótimas”, como diria a Ângela Teresa. Detalhes e nomes, eu calo. Sigo aqui e passo adiante o conselho do poeta francês Paul Verlaine: “nomear é tirar três quartos da sedução”. Para terminar, e porque nesse mundo, como toda gente sabe, quase nada se cria e quase tudo se copia, tomo de empréstimo, parodiando, o fecho do excelente programa que o amigo e senador Paulo Alberto, o Artur da Távola (ex-Manchete, ex-Fatos), mantém semanalmente na Rádio MEC: “sou muito grata a quem me leu; peço perdão a quem aborreci.”
[L.A.]
paginand0 Fatos
Em 1953, depois de trabalhar durante dois anos no IBGE, resolvi pedir demissão. Não conseguia ser funcionário público. Não me sentia bem e aquele processo de trabalho me incomodava. Durante aqueles anos fiz bons amigos na Inspetoria do IBGE e foi lá que vim a conhecer Maria Adelaide, hoje minha mulher. No ano seguinte, em 1954, através de um amigo, jornalista, consegui uma entrevista com Antonio Accioly Netto, diretor da Empresa Gráfica O Cruzeiro S/A. Na entrevista, ele veio a saber que já tinha editado alguns números do jornalzinho do Grêmio, no Liceu de Niterói, onde estudava, o que levou, acredito, a me convidar para trabalhar na revista O Cruzeiro. Comecei como estagiário na reportagem da revista. Naquela época, O Cruzeiro era o veículo jornalístico que mais vendia no Brasil, vindo alcançar a marca de quase um milhão de exemplares semanais com a cobertura do suicídio, naquele mesmo ano, do Presidente Getúlio Vargas.No princípio, fiquei na reportagem mas, logo depois, como gostava de desenhar, sempre atraído pela paginação, me aproximei do Diretor de Arte da revista, Milton d´Ávila, que me aceitou como auxiliar na arte de diagramar.O Cruzeiro ficava num prédio projetado por Oscar Niemeyer na Rua do Livramento, no bairro da Saúde. O edifício abrigava, além da redação, todo o sistema gráfico, onde vim a aprender até a costurar lombada de livro. Para a época, a gráfica era muito moderna. No quarto andar do prédio, uma gigantesca rotativa “Hoe”, que ocupava toda extensão do pavimento, onde as revistas O Cruzeiro, A Cigarra e, mais tarde, O Cruzeiro Internacional, em língua espanhola, eram impressas. O setor de impressão a Off Set não era tão desenvolvido como o da Rotogravura. A impressão tipográfica, superada, não era mais usada.Como disse acima, além de aprender a costurar à mão, lombadas de livros, aprendi também a digitar em linotipo, montar as páginas em chumbo, calçar e amarrar com barbantes. Aprendi a participar de todas as fases da produção de uma revista ou jornal. Desde o início, na sua paginação, até a saída do material impresso na boca da máquina.Na diagramação, vim a trabalhar com os melhores fotógrafos e repórteres do país. José Medeiros; Henri Ballot, Ed Keffel, o fotógrafo do Disco Voador; Indalécio Wanderley, o fotógrafo das misses; Flávio Dan; Luiz Carlos Barreto, hoje cineasta famoso; George Torok; Eugênio Silva; Luciano Carneiro; Jorge Audi, e tantos outros, na fotografia. Na reportagem, Ubiratan de Lemos, que, com Mário de Moraes ganhou o Prêmio Esso de Reportagem; João Martins; Álvares da Silva; Glauco Carneiro; Jorge Ferreira de São Paulo; Leopoldo Hertz; Armando Nogueira; Luiz Edgard de Andrade e outros repórteres e redatores como Gualter Mathias Neto; o cearense Alencar; Sérgio Noronha, hoje comentarista de esporte na televisão; Ary de Vasconcelos, crítico de música, assim como José Ramos Tinhorão e não posso deixar de mencionar David Nasser. Paginei muitas reportagens do David Nasser como as duas páginas semanais em que fazia duras críticas a políticos e governos. Trabalhei também com José Cândido de Carvalho. Na ocasião ele chefiava o setor de redatores, mais precisamente o copydesk da revista. José Cândido escreveu O Coronel e o Lobisomem praticamente na redação de O Cruzeiro, nas suas horas disponíveis. Muitas vezes chegava por volta das 7 da manhã, sentava-se à sua mesa e da sala de paginação ouvíamos o matraquear contínuo da máquina de escrever. Às vezes, ele me chamava e lia alguns trechos do seu livro e ríamos muito de algumas passagens descritas. Sempre com seu cigarro de palha, pendurado dos lábios, que ele mesmo enrolava, José Cândido foi eleito membro imortal da Academia de Letras.Tornei-me tornei amigo do Péricles, o criador do Amigo da Onça, além dos cartunistas humoristas Carlos Estevão; Appe, o caricaturista político; Borjalo, de quem me tornei um grande amigo; Ziraldo, que mais tarde veio a ser o Editor de Arte da Revista. Todos eles foram importantes para mim. Me ajudaram muito, e me ensinaram como paginar uma revista, um jornal ou qualquer outra publicação, além, é claro, do Milton d´Ávila, que foi o grande professor.Aos poucos, com a facilidade que tinha para desenhar, adquiri maior conhecimento e qualificação na arte, de sorte que fui alçado a assistente direto do Milton d´Àvila e, anos mais tarde, cheguei a ser Diretor de Arte da Revista O Cruzeiro.Com a vinda de profissionais gráficos, argentinos e italianos, para trabalhar no jornal Última Hora, de Samuel Wainer, essa função de desenhar as páginas nas redações veio com eles. E com eles começou a se formar no Brasil uma nova profissão, que passou a se chamar de paginador, na verdade desenhistas, pois desenhavam nas páginas, ou layouts, os espaços aonde deveriam ficar os títulos, textos, legendas e fotos. O que antes era feito na oficina gráfica, passou a ser feito nas redações.Mais tarde o termo paginador passou a ser diagramador porque entenderam que o profissional trabalhava em cima de um diagrama, o layout, a página que correspondia ao tamanho real da publicação trazendo nela, impressa, linhas verticais e horizontais, que formavam no seu cruzamento um quadrado, correspondente a uma medida gráfica, que era o cícero.O processo de paginar na revista O Cruzeiro consistia no seguinte: Milton d´Ávila, o Chefe de Arte, com as fotos da reportagem já escolhidas e ampliadas, em preto e branco, eram espalhadas, em cima de uma mesa, onde as fotos eram selecionadas, sendo que a mais bonita ou que a que sintetizasse mais o espírito da reportagem, era a escolhida para abrir a matéria. Dependendo do número de páginas 8, 10, ou 12 eram desenhadas, obedecendo a um roteiro fotográfico. As páginas esboçadas eram distribuídas aos auxiliares de paginação que, com régua e lápis, copiavam o seu desenho milimetricamente, em outros layouts, marcando a proporção das ampliações ou reduções dos tamanhos das fotos que seguiam para os laboratório fotográfico, de onde voltavam ampliadas ou reduzidas, quando então se procedia à montagem e à colagem, dessas fotos, nas páginas desenhadas. Esse trabalho consumia, normalmente, um dia e uma noite de trabalho. As ferramentas usadas eram a tesoura e cola.Com isso tinha-se uma visão de como ficaria a reportagem antes de ser impressa, o que proporcionava muitas vezes modificações e trocas de determinadas fotos por outras que expressassem mais o sentido da reportagem. Mais tarde o sistema se aprimorou abolindo a colagem de fotos e passou-se a usar o método de projeção das fotos, já usado pela revista Manchete, desenhando - as nos layouts . Com esse processo, ganhava-se mais velocidade, e ao mesmo tempo diminuía-se o número de auxiliares de paginação.Participei, como também diagramei reportagens para o lançamento da revista O Cruzeiro em língua espanhola. Essa revista, O Cruzeiro Internacional, alcançou a tiragem de mais de 300 mil exemplares, sendo distribuída por todos os países da América Latina desde o Chile até o México. Com O Cruzeiro Internacional, a revista Life Internacional, em língua espanhola, foi caindo de tiragem até ser retirada do mercado latino americano.A imprensa vivia sob o regime do lápis, régua, borracha, tesoura, cola e o teletipo.Em 1974, depois de 20 anos, pedia demissão de O Cruzeiro ao mesmo tempo em que entrava na Justiça Trabalhista. Quatro ou cinco anos depois, a empresa pediria falência e a revista O Cruzeiro deixava de circular no país.Naquele ano, deixei de trabalhar para Assis Chateaubriand.Na mesma época, sem emprego fixo, passei a prestar serviço a algumas Agências Editoriais, quando Ubiratan de Lemos me levou para a Agência Guavira, do Gustavo Farias, militar reformado, que editava livros de governos estaduais exaltando as obras de seus governadores.Na Agência, vim a conhecer o jornalista Flávio Costa, que trabalhava na Bloch Editores e era Editor da Revista Tendência. Passamos a trabalhar juntos. Flávio editava os livros e eu paginava as fotos e os textos, que na maioria das vezes, eram escritos por ele. Por duas vezes Flávio me convidou para trabalhar na Manchete. A fama da Empresa era, na ocasião, de demitir dois ou três funcionários a cada dia. Apesar da fama, no terceiro convite, resolvi enfrentar o desafio e fui trabalhar na revista Tendência. Era desejo do Flávio criar um departamento de jornalismo voltado só para as revistas dirigidas o que veio a conseguir mais tarde editando além da Tendência a Medicina Hoje, em seguida Agricultura Hoje, e logo depois lançou a Engenharia Hoje.Em 1975, passei a trabalhar com Adolpho Bloch.A dinâmica de trabalho da Bloch Editores era inteiramente diferente de O Cruzeiro. A composição a quente tinha sido abolida na empresa e o sistema tinha evoluído para composição eletrônica. As redações das revistas ficavam no oitavo andar e a parte gráfica compreendendo a composição eletrônica e a arte final, no sétimo, facilitando assim o tráfego das matérias paginadas. Cada redação tinha o seu chefe de arte e um auxiliar de paginação, quando muito mais um auxiliar, o que era o caso da revista Manchete. Wilson Passos era o Chefe de Arte e os dois assistentes eram o Nelson Gonçalves e Pedro Alves Guimarães, o Pedrão, devido a sua altura um pouco exagerada para os nossos padrões. Por acaso, esses dois assistentes de arte trabalharam comigo na revista O Cruzeiro. Todo o trabalho era muito simples. Wilson recebia do editor, pequenos layouts rascunhados, como deveriam ser as páginas na sua distribuição de fotos e textos. Com essa orientação, Wilson traduzia para layouts, páginas do tamanho da revista, a idéia esboçada, agora usando lápis e régua. Quando a matéria era a cores, os assistentes projetavam as fotos desenhando nos espaços criados nos layouts, na sala de projeção. Na verdade 90 por cento das matérias na Manchete eram a cores sendo os outros 10 por cento reportagens com fotos em preto e branco Era um trabalho simples e acima de tudo rápido e limpo. A tesoura e a cola deixaram de existir. Essas ferramentas só eram usadas na arte final, no sétimo andar, onde os textos e legendas, em papel couché, eram colados em layouts obedecendo o desenho das páginas.A dificuldade maior na paginação eram os textos. Cada chefe de arte criava o seu próprio método para calcular o aproveitamento dos textos nas paginações. Na verdade, uma regra de três. Com ela se efetuava o cálculo de linhas, em composição, que deveriam ocupar, nos espaços desenhados na paginação. Esse processo dava certo algumas vezes sim, outras não, isso em razão de que muitas laudas, vinham emendadas e rabiscadas pelo editor chefe, o que dificultava o cálculo, significando que o chefe de arte, de madrugada, iria receber em casa, uma ligação telefônica para resolver o estouro do texto nas matérias paginadas ou a falta do mesmo. Mas, geralmente, dava certo e os pequenos desacertos o chefe da Produção, no caso o Lourival Bernardes, às vezes aumentando um pouco as fotos ou mesmo diminuindo o seu tamanho corrigia o problema.Durante dois anos fiquei nas Revistas Dirigidas com Flávio Costa, até o seu falecimento, vitimado por um acidente de carro em São Conrado. Em seu lugar veio Salim Miguel e mais tarde Leo Schlafman.Jaquito (Pedro Jack Kapeller) quis reeditar a Manchete Esportiva e para isso chamou Zevi Ghivelder, como seu Diretor, e Ney Bianchi, como Editor. Pedrão, assistente de paginação do Wilson Passos, foi convidado para ser o seu Chefe de Arte, mas não aceitou, e me chamou para ocupar o cargo. Aceitei de imediato. Foi mais uma dura experiência por que passei. Os jogos de futebol eram sempre aos domingos, por isso começávamos a trabalhar na redação da revista a partir das 18h desse dia e trabalhávamos até o fechamento, que geralmente ia até1h ou 2h da madrugada de segunda. A revista tinha que entrar nas bancas a partir de meio dia de segunda-feira. Eram 12 páginas abertas para noticiar os jogos em todo o país.Tudo era uma correria porque tínhamos de lutar contra o tempo. Vic, que trabalhava no teletipo, não parava de trazer os resultados dos jogos que ocorriam em todo território brasileiro, além das fotos, em preto e branco, de péssima qualidade, que chegavam via telefoto desses jogos. Era o campeonato brasileiro. Em média 70 jogos que se realizavam que a Manchete Esportiva dava cobertura. Quase um ano e meio depois, numa segunda-feira, depois da correria da noite de Domingo cheguei, por volta de meio dia, à redação da Manchete Esportiva. Encontrei o Ney Bianchi meio cabisbaixo, triste, abatido, e assim que entrei virou-se para mim e disse: - “Barros, foi um prazer trabalhar com você. Muito obrigado, se quiser pode ir para casa e voltar amanhã, quando saberá se foi despedido ou se vai continuar na empresa.” Continuou. – “O Jaquito, hoje pela manhã, me comunicou que fechou a revista Manchete Esportiva”. Imagina o choque que sofri. Depois de uma noite extenuante de trabalho ver tudo desabar de um momento para o outro era demais. Pensei comigo mesmo, “Barros, você está na Bloch Editores, nada disso pode lhe causar surpresas”. No dia seguinte voltei e fiquei sentado à minha mesa aguardando a ordem de “fire” já tão tradicional naquela empresa. Continuei todos os dias, indo para a Bloch, para a mesma sala, e nada acontecia. Depois de um mês, já cansado de tanto aguardar essa demissão, Jaquito entrou na sala onde só restavam eu e o Ney, os outros, alguns foram demitidos, outros transferidos, como o Tarlis Baptista, repórter e Renato Sérgio, redator, para outros setores da empresa, a mim, me foi destinado a Bloch Educação. Iria trabalhar com Arnaldo Niskier, e o Ney foi levado de volta para a redação da revista Manchete.Ney Bianchi era uma criatura alegre, sempre de bom humor, inteligente, um dos melhores redatores da Empresa, irônico, às vezes mordaz escrevia com muita facilidade atacando ou defendendo uma idéia mas sempre voltado para o sentido jornalístico.Bem, na Bloch Educação foi outra experiência porque passei e profissionalmente foi mais um aprendizado na minha carreira. Paginar livros de educação era muito cansativo e monótono. Não havia expectativa de acontecimentos, não havia estresse. Um dia era igual ao outro que era igual ao outro, igual ao outro e assim por diante. A redação tinha uma chefe, Ana Maria, uma moça muito alegre e dinâmica. Enquanto Arnaldo administrava as relações com os autores dos livros, que eram sempre professores, e Diretores Educacionais do Ministério de Educação, Ana Maria administrava a redação propriamente. Logo de cara Ana Maria me passou um projeto, que estava engavetado há anos, era o folheto de um curso de como aprender inglês em tantas aulas. Criei e dei forma ao projeto, com uma linha visual própria e iniciei a sua produção.Mas essa experiência não durou muito. Alguns meses depois fui chamado pelo Jaquito para ir trabalhar no Carnaval daquele ano, na redação da Manchete, sabedor que fora chefe de arte de O Cruzeiro e já tinha experiência acumulada em outros carnavais. A sua preocupação naquele momento era de que o Wilson Passos, por motivos de doença ou mesmo de algum acidente pessoal, ficasse impossibilitado de trabalhar, e comigo na arte o problema estaria resolvido.Muito bem, isso ocorreu duas semanas antes do Carnaval. Na semana que precede o evento a redação da Manchete entra em recesso, mas os outros setores continuavam em pleno funcionamento. Na semana do recesso aconteceu o que Jaquito temia. Pedrão, o assistente do Wilson, é encontrado, pela manhã, morto no sofá da sala do seu apartamento, vitimado por um infarto fulminante.Com isso, passei a trabalhar na paginação da revista Manchete, com Wilson Passos, ao lado dos seus monstros sagrados como Justino Martins, o seu Editor Chefe, Roberto Muggiati, com quem criei uma sólida amizade, várias vezes chamado para ser Diretor-Editor da Revista; Wilson Cunha, critico de cinema; o velho escritor e imortal Raimundo Magalhães; Irineu Guimarães, o índio; o critico de arte Flávio de Aquino a quem tanto admirava; José Guilherme; mais uma vez o Ney Bianchi, assim com o Zevi Ghivelder e o então famoso jornalista e escritor, Carlos Heitor Cony, com quem mais tarde iria criar uma forte amizade que dura até hoje. Não posso deixar de citar e lembrar do Alberto Carvalho, uma criatura especial. O Alberto era, na verdade, o selecionador de fotos, tanto pela sua qualidade como pelo seu sentido jornalístico, somando-se a isso a sua facilidade de contar as histórias e lendas folclóricas dos fatos ocorridos na Manchete, que de uma maneira ou outra, sempre envolviam Adolpho Bloch. Na redação da Manchete, no oitavo andar, trabalhávamos estreitamente ligados a Adolpho Bloch, que de sua sala separada da nossa, por uma parede de vidro, passava quase que o dia inteiro nos observando, alem do Jaquito, que tinha sua mesa na mesma sala..A Redação da Manchete ficava no Russell, em um prédio também projetado por Oscar Niemeyer. A gráfica ficava em Lucas, na Avenida Brasil, quase chegando na Rio- São Paulo. Algumas vezes tive que ir a Lucas, onde vim a conhecer Milton Soares, o chefe da Produção do setor de Off Set, assim como, Helio Pazzini, Supervisor na área de Rotogravura, dois excelentes amigos e profissionais.O Parque Gráfico da Manchete era alguma coisa de fantástico, além de ocupar um espaço calculado em torno de três ou quatro quarteirões, era completo. Mais de 20 máquinas planas de Off Set em quatro cores trabalhando 24 horas por dia. Ao mesmo tempo que três ou quatro máquinas rotativas, também em Off Set, se revezavam rodando as revistas Manchete, Amiga, Desfile, Ele&Ela, Pais&Filhos, Carinho, além das obras gráficas que eram contratadas por empresas comerciais e industriais Mas o mundo gráfico começava a passar por uma transformação que iria causar uma revolução no jornalismo. A revolução da informática, talvez, depois da revolução cristã que modificou o mundo, se tornou das mais importantes no comportamento do homem na sociedade. No setor gráfico, o computador foi fundamental. A sua prática veio trazer enorme velocidade na feitura dos jornais, revistas, obras gráficas como livros, folhetos etc. Ao mesmo tempo, qualquer um poderia trabalhar no computador e desenhar páginas, desde que fizesse um curso operacional, de máquinas, com o programa que escolhesse.Primeiro, vieram os textos compostos em máquinas, como o sistema Composer seguido logo depois, pelas máquinas eletrônicas que compunham os textos a frio. As Linotipos foram aposentadas. Essas máquinas dominaram o mercado gráfico por algum tempo. Logo em seguida vieram os software, como o Page Maker, o QuarkXpress, que permitiam paginar qualquer trabalho gráfico, com enorme economia de horas de trabalho, além da qualidade que apresentava com os recursos gráficos e fotográficos, principalmente digitar os textos ou inserí-los, nos desenhos das páginas, através dos disquetes. Com a invasão do software no mundo gráfico, a revolução da informática, acredito, se completou. Além das horas de trabalho ganho com esses programas, as empresas diminuíram consideravelmente seus quadros de funcionários. Profissões, nesse ramo, deixaram de existir como o arte finalista, o desenhista de letras, o produtor gráfico e outras profissões. Alguns jornais, tanto no Rio como em São Paulo, já estavam informatizando as suas redações como também os seus Parques Gráficos. A Bloch Editores não perdeu tempo e Jaquito, seu Superintendente, apressou-se em implantar o sistema na empresa e montou uma linha de computadores da Macintosh, considerado o computador mais adequado na área gráfica. Para isso contratou técnicos especializados, como Ricardo Trzmielina, um jovem, de 20 anos, que sabia de tudo sobre computadores, com quem vim aprender o que sei, para sua implantação, ao mesmo tempo, que proporcionava cursos de paginação aos seus Chefes de Arte como também aos seus assistentes.Fui um dos indicados para fazer o curso e logo aprendi a trabalhar com essa fantástica ferramenta. Além de nos facilitar, o desenho das páginas nos dava a visualização imediata, na tela do monitor, do que estávamos criando.O programa gráfico com que executávamos e desenhávamos as páginas no computador era o QuarkerXpress. A execução desse trabalho exigia também o conhecimento de outros programas e um deles, talvez o mais importante, é o Photoshop. Esse programa permite que se trabalhe uma fotografia aumentando o seu fundo, recortando figuras ou montando-a com outra, enfim, uma série de recursos que vieram enriquecer o trabalho da paginação.A revolução estava feita. Ou se embarcava nela, ou se morria afogado sem colete salva vidas. Embarcamos nela e a Manchete, em menos de um ano, já estava toda informatizada. Todas as revistas, agora, tinham o seu Chefe de Arte equipado com um computador Macintosh e um operador de máquina que finalizava o desenho, criado pelo chefe. A Manchete, pelo seu número de páginas, que ficava em torno de 96, fora as capas, trabalhava com seu Chefe de Arte mais, no seu auge, 7 auxiliares, também paginadores, finalizando matérias nos seus computadores, alem das seções e colunas. Com esses computadores chegamos fechar 48 páginas da revista numa segunda feira, que era o dia do seu fechamento. A revista com 96 páginas ficava dividida em dois cadernos de 48 páginas cada um. O primeiro caderno era fechado todo na quinta feira. É claro que isso exigia um esforço maior e o trabalho de fechamento ia sempre, mais ou menos, até à uma ou duas horas da manhã do dia seguinte. Na segunda, fechávamos o último caderno, também com as 48 páginas, levando o trabalho até às 2h da manhã.Depois de ir para a revista Manchete, fui transferido várias vezes para outras revistas. Posso dizer que trabalhei em todas as revistas da Bloch Editores. Trabalhei com Ângela Tereza na revista Gente, uma contra-facção da Fatos&Fotos, criada pelo Jaquito. Em uma das muitas transferências, fui parar na Fatos&Fotos onde vim a trabalhar com Carlos Heitor Cony e José Esmeraldo. Cony como o seu Editor e Esmeraldo como Chefe de Redação. Foi nessa redação que nasceu a idéia de Cony, da Bloch lançar uma revista seguindo uma linha editorial semelhante à da revista Veja com o nome Fatos e passou essa idéia para Esmeraldo e para mim. Da idéia passamos à execução. Nunca abracei um trabalho com tanta convicção profissional como esse. Cony conseguiu formar uma equipe de excelentes profissionais como Sergio Riff; Marcus Santa Rita; Aldo Wanderman, Mário Bendetson; Lenira Alcure; Daisy Prétola; Regina Zappa; Romildo, como assistente de paginação, além de outros colegas jornalistas. O seu lançamento coincidiria com a eleição de Tancredo Neves para Presidente do Brasil, e a capa da Fatos, no seu primeiro número, seria a sua posse em Brasília. Mas nada ocorreu como foi planejado. Tancredo caiu seriamente doente e, em seu lugar, José Sarney, seu Vice, tomou posse e foi a capa da Fatos.Na Fatos, a minha amizade com Carlos Heitor Cony se consolidou e a minha admiração para com ele se tornou imensa. Tendo trabalhado toda minha vida com os melhores profissionais de imprensa, trabalhar com Cony foi a coroação de tudo isso. Durante os intervalos de trabalho na redação esperando a chegada de material fotográfico ou mesmo texto que estava para chegar ficávamos conversando. Cony contava então as histórias porque já tinha passado tanto nas reportagens como nas perseguições políticas que sofreu durante os chamados “Anos de Chumbo”.Um dos fatos que me impressionava no Cony era a sua facilidade para escrever. Me lembro que quando estávamos preparando a “boneca” para o lançamento da Revista Fatos, tinha já paginado as fotos para a matéria política e precisava de um texto correspondente a 5 laudas para completar a paginação. Cony sentou-se à máquina, confirmou se eram 5 laudas mesmo e passou bater nas pretinhas. Nessa época ainda não existia o computador. Em pouco tempo, as 5 laudas estavam prontas, com um texto atualizadíssimo sobre o momento político.Na Fatos, vim a trabalhar mais diretamente com José Esmeraldo, cearense porreta, magro e fino mas um profissional de primeira além de possuir um bom humor como poucos. Um grande contador de histórias da Manchete com quem fiz uma grande e duradoura amizade. A Fatos foi um celeiro de craques que trabalharam até no sacrifício pessoal devido as dificuldades que encontrávamos no caminho. Por ser muito nova a revista ainda não tinha uma infra estrutura montada e trabalhava-se sempre até mais tarde. Foi na Fatos que o “Pão com Ovo” se institucinalizou, o sagrado alimento, um sanduíche peculiar, que a empresa a altas horas da noite nos fornecia como compensação pelo trabalho dispendido.Mas valeu a pena. Através da Fatos vim a trabalhar com Daisy Prétola, uma companheira para todos os momentos, Lenira Alcure, a nossa redatora que entrevistou grandes personalidades como Luiz Carlos Prestes, Sergio Riff, também redator que vestiu a camisa da Fatos. Marcus Santa Rita o nosso socialista que abordava área internacional, sempre pronto a soltar o porrete no Ronald Reagan. Regina Zapa, outra figura maravilhosa que integrava a nossa equipe de redatores. Mário, o designer, mas que era um brilhante redator. Aldo, editor dos acontecimentos nas áreas de música, teatro, cinema. Maria Alice Mariano, a repórter policial. Enfim, uma gama de profissionais que deram tudo o que sabiam, cada um na sua área. Se não deu certo não foi culpa deles. Mas, na minha opinião foram grandes vencedores porque, contra tudo e contra todos, levaram sempre a sério o trabalho que realizavam.Tempos depois Adolpho Bloch resolveu suspender a circulação da Fatos e ela foi fechada. Como sempre, alguns foram demitidos porque não havia espaço para eles em outras redações e eu mais uma vez fiquei aguardando se seria o meu destino ser demitido ou transferido. Fui transferido e dessa vez, imagina, para o Departamento de Divulgação da Televisão, com Edna Palatnik, sua Chefe. Na televisão, passei por verdadeiros horrores, onde sofri muito. Não havia hora para terminar o serviço. Dia sim, dia não, invariavelmente, sempre às 18h, aparecia um trabalho, ora um anúncio ora um convite para um cocktail e assim por diante. Nunca se ia embora antes de meia noite. Um ano depois, o Editor da Manchete, Roberto Muggiati, pedia minha transferência para trabalhar mais uma vez na redação da revista. Nunca agradeci o suficiente ao Muggiati por ter me tirado daquela fria que quando me lembro, ainda hoje, sinto calafrios.Logo depois, Janir de Hollanda, um dos Diretores de revista da Bloch, puxou-me para a Amiga e lá fiquei até um dos seus últimos Editores, Rose Esquenazi, pedir a minha cabeça ao Jaquito. Não fui demitido na ocasião, porque Janir levou-me para a sua sala e disse: -Barros, primeiro você vai tirar férias e quando voltar vai ficar aqui comigo, mas evita ser visto por pessoas da Diretoria. E, assim, depois das férias me tornei o chefe de arte oculto por Janir de Hollanda. Como chegava cedo, não corria o risco de ser visto por Jaquito, ou qualquer outro Diretor. No oitavo andar é que os figurões desfilavam. Pegava ou saltava do elevador, sempre no sétimo andar, e usava a escada para chegar na minha sala, no oitavo andar, me tornei o homem invisível. Deixei de almoçar no restaurante da Bloch. Passei a ir na cidade fazer o meu almoço onde vim a conhecer alguns restaurantes originais como o “Bundinha de Fora”, uma extensão popular do Rio Minho, uma casa especializada em frutos do mar. Com isso descobri o centro do Rio. Não perdia as vernissagens de artistas plásticos na sede do Museu do Banco do Brasil, no Museu dos Correios ou mesmo na Casa França Brasil. No Paço Imperial acompanhei várias exposições e uma das que mais me impressionou foi a do Pablo Picasso. Freqüentava também A Escola Nacional de Belas Artes, onde acompanhei exposições de grandes artistas, como Salvador Dali. Todas essas casas, ficavam muito próximas uma da outra. Na Avenida Rio Branco, na Praça Quinze, na Primeiro de Março, na Ouvidor e a Casa França Brasil, atrás do BB, o que facilitava essas idas na hora do almoço. Cheguei a almoçar até no Beco das Sardinhas.Quando almoçava sanduíche no Color Bar, que ficava ao lado do prédio da Manchete, ia fazer hora na Praça do Russell, onde tem a estátua de São Sebastião, e ali ficava escondido, olhando o céu azul, que cobria todo o aterro da Glória e a Praia do Flamengo. Nesse desterro, descobri como somos ninguém e como não fazemos falta a nada. Nunca me lamentei, mas isso me deixava triste, e me perguntava se não seria melhor ter sido despedido. Desempregado, iria correr atrás de trabalho, e apesar da idade, sabia que conseguiria. Ainda tinha amigos em plena atividade nesse setor.De repente, mais uma vez, alguém se lembrou de mim. A Manchete editava cadernos, tamanho tablóides, encartados na revista e eu fui chamado para paginá-los, no último andar do prédio novo da Empresa. Fiquei lá por pouco tempo quando me transferiram para outra sala, já no oitavo andar, em frente a redação da revista Manchete. Dali foi um pulo para ser chamado pelo Massimo Gentile, Chefe de Arte italiano que tinha vindo para trabalhar na reforma gráfica da revista, para trabalhar com ele.A essa altura a revolução gráfica já tinha ocorrido na empresa em toda a sua plenitude. Jaquito tinha contratado designers italianos para procederem a grande reforma visual da revista Manchete, o que foi feito. Mas, no meu entender, a grande ruptura visual ocorreu mesmo, foi no logotipo. Substituíram a palavra Manchete, que era o logo da revista, por um grande M na capa e, na sua base, vinha em corpo menor, correspondendo à largura do M, o nome Manchete.Mas, os tempos eram outros. A venda avulsa da revista nas bancas caía vertiginosamente. Outras revistas também começaram a cair nas vendas e algumas foram fechadas. O processo de demissão começou e muitos colegas perderam o emprego. A empresa deixou de pagar os salários e, em troca, recebíamos vales às sextas-feiras. O fim da empresa se desenhava velozmente. Já tinha passado por uma situação semelhante no O Cruzeiro. A diferença é que, na naquela ocasião, era 25 anos mais jovem. Por ironia do destino, Jaquito veio a mim, diante de um problema que surgiu, Massimo, seu Chefe de Arte, desligou-se da Empresa, e ele pediu-me que assumisse a Chefia de Arte da Manchete. Sabia que seria mais um desafio mas que seria derrotado no final, assim mesmo topei mais essa parada, e fui em frente. Acertei o salário com Carla Kapeller, Superintendente da Empresa, e parti para mais essa guerra. Zevi Ghivelder, antigo diretor da Bloch, tinha voltado, em meio dessa crise, a trabalhar na Bloch. Eu chegava cedo, geralmente por volta das 8h da manhã, e num desses dias, ao saltar do elevador no oitavo andar, encontrei com ele. Animado, com sua presença, cumprimentei e falei: — Oi!, Bom dia, Zevi, mais um dia de trabalho, não é verdade?. Zevi virou-se para mim e disse: — Barros, não sei se é mais um dia ou menos um dia de trabalho!Poucos meses depois a Bloch Editores, em agosto de 2000, pedia sua falência. A revista Manchete não mais circularia nas bancas de todo o Brasil. [J.A.B.]
Caro PC
Com o maior prazer. Aliás, uma das autoras, Daisy Prétola, me disse que foi de uma das primeiras turmas da FACHA. Podemos combinar.
abrs
Por favor: pegue meu e-mail com a minha aluna. OK? Alguém postou alguns trechos do livro aqui no blog. Parece. Bem interessante. Não sei quem foi.
grande abraço
Ok, Pc, farei isso, valeu.
Também não sei quem postou esses textos. Curiosamente, há algumas semanas esses pedaços de textos de um versão antiga apareceram na internet sempre anonimamente. Bom, coisas da rede... vale dizer que o livro já está nas livrarias e é muito mais do que isso(são 450 páginas e quase 200 imagens). Espero que goste.
abrs
Fico aguardando. Não deixe de entrar em contato comigo. Vai ser muito interessante. Os alunos precisam conhecer a Manchete "mais de perto".
vc ta online ???
Postar um comentário